0%
Comentários
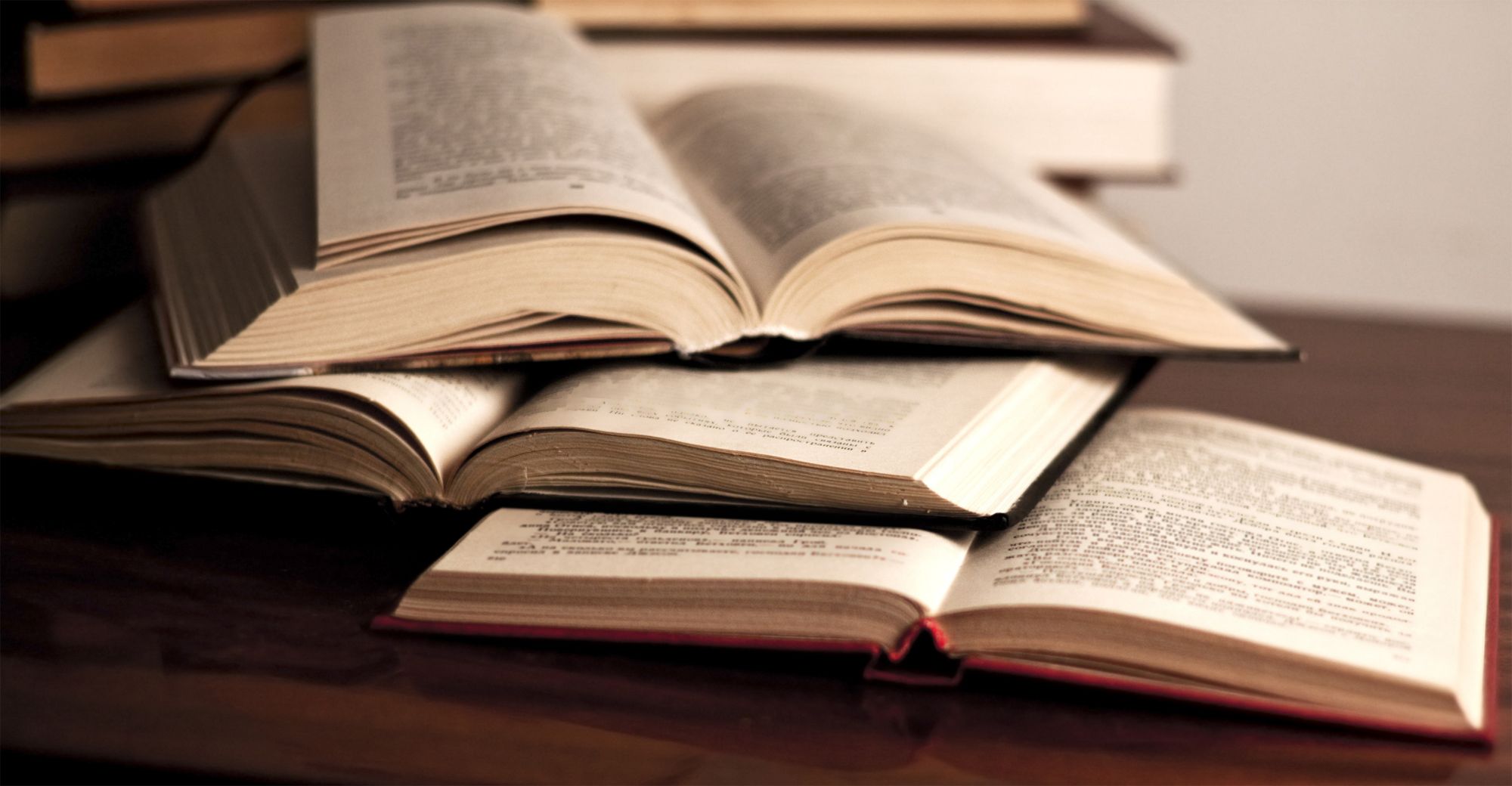
Fonte: Shutterstock.
Deseja ouvir este material?
Áudio disponível no material digital.
Olá! Nesta seção estaremos conversando sobre A Legislação Educacional Brasileira, abordando a hierarquia da Legislação no Brasil, as normas legais quanto à tramitação da legislação educacional e compartilhamento de responsabilidades entre entes federados, ou seja, entre Distrito Federal, Estados, municípios e federação, relativos à implementação das Políticas Educacionais.
Aqui estaremos retomando a trajetória histórica da educação brasileira, visando demonstrar o quanto os aspectos sociais, políticos e econômicos influenciam na concepção da educação e o quanto influenciam na elaboração de leis que norteiam as Políticas Públicas.
Nesta seção, focalizaremos os aspectos legais atuais que orientam e regulamentam o Sistema Educacional brasileiro, com destaque para a Constituição Federal (CF), de 1988, e sua influência na educação brasileira, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, (LDB nº 9394/1996) e o seu papel na estruturação da educação básica.
Vale destacar que, ao final desta seção, espera-se que você compreenda o papel da legislação educacional para a organização e o funcionamento da Educação Nacional, favorecendo a reflexão acerca da ação educativa.
Qual a visão de Educação presente em nossa atual Constituição Federal? Você já parou para fazer essa análise e verificar sua relação com as Políticas Educacionais que temos vivenciado?
Como você está se preparando para ser um futuro educador, é fundamental conhecer mais sobre o funcionamento da Educação no Brasil, por isso, adote a postura de um educador pesquisador e busque conhecer nossa legislação educacional, com destaque para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996.
O contexto de aprendizagem apresentado busca aproximar você da realidade de seu campo de trabalho. Lembre-se de que, embora seja uma narrativa hipotética, é um exercício que mobiliza conhecimentos promovidos nesta disciplina, conectando-os com as situações da prática educacional e tornando-os mais compreensíveis e significativos.
Em um final de semana, João estava na escola pública de ensino fundamental “Construindo o Futuro”, onde está estagiando, e enquanto organizava os espaços para a utilização da comunidade, recebeu um grupo de pais preocupados com alguns boatos que estão circulando na comunidade. Ouviram dizer que a escola será municipalizada e estão preocupados com o destino de seus filhos. Muitos professores têm comentado que no próximo ano letivo talvez não estejam mais na escola e não sabem se as turmas serão mantidas, ou se haverá alguma reestruturação, portanto, o futuro dos empregos também é incerto, o que tem ocasionado grande insegurança e a mobilização da comunidade. Diante dos comentários, os pais procuraram João para verificar essas informações e juntos pensarem numa mobilização.
Durante a conversa com João, alguns pais acabam expondo que estão inseguros, pois temem que a escola feche no bairro, além de não acreditarem que o município consiga manter a escola funcionando no mesmo padrão que o Estado.
João ouve todas as dúvidas da comunidade para, em um segundo momento, poder orientar e propor ações.
Entre as principais dúvidas pontuadas pelos pais estão:
Nesse momento, você, futuro educador, deve ocupar o lugar de João e propor ações para resolver essa situação-problema apresentada. Descreva hipoteticamente quais seriam as possíveis ações de João.
Vamos juntos conhecer mais sobre o histórico e funcionamento da Educação no Brasil?
Um excelente estudo!
Olá! Vamos conversar nesta seção sobre a Legislação Educacional brasileira recuperando, de forma breve, o percurso histórico da educação no Brasil, focando o papel das regulamentações para sua organização e funcionamento.
Na atualidade, quando falamos em Educação, logo nos vem à mente a ideia de um projeto de sociedade e de formação humana, assim, analisamos aspectos que a influenciam como: a cultura, a economia e a política em vigor.
A partir da visão de Educação e do contexto sociopolítico, teremos Legislações que regulamentaram sua implementação.
Hierarquia da Legislação no Brasil
Pensando na hierarquia das leis, cabe destacar que, no Brasil, vigora o princípio da Supremacia da Constituição, ou seja, as normas constitucionais estão num patamar de superioridade em relação às demais leis, servindo de fundamento de validade para estas.
Pensando na normatização e nessa hierarquia, Bittencourt e Clementino (2012) pontuam que podemos pensar em três grupos de normas legais:
| Normas constitucionais |
|
| Normas infraconstitucionais |
|
| Normas infralegais |
|
É fundamental destacar que não há hierarquia entre as normas de um mesmo grupo, o que existe é campo de atuação diferenciado, específico entre essas normas que compõem o mesmo grupo.
O que existe também é hierarquia entre os grupos, sendo que as normas constitucionais são hierarquicamente superiores às normas infraconstitucionais, que são hierarquicamente superiores às normas infralegais.
Pensando na organização e no funcionamento da educação brasileira, o caminho histórico que constituiu nossa realidade educacional é longo e pautado em leis que revelam cenários sociais, políticos e econômicos.
Antecedentes históricos da Legislação Educacional e Políticas Públicas
Neste momento, futuro educador, resgataremos o histórico da educação brasileira para compreendermos sua forma de organização e funcionamento, compreendendo o momento em que a Legislação Educacional passou a compor sua história.
De acordo com Freitag (1980), para compreendermos melhor a organização da Educação brasileira podemos dividi-la em três períodos históricos, cada qual com uma perspectiva política e que revela interesses sociais e econômicos do período em que abrangem. São eles:
1º período (1500 a 1930)
Podemos dizer que o 1º período da história da Educação Brasileira iniciou-se com a chegada dos jesuítas no Brasil, no período colonial português, sendo “Regimentos” o primeiro documento que marcou a política educacional daquele momento, assinado por Dom João III, em 1548. Quando Manuel da Nóbrega chegou no Brasil, em 1549, iniciou-se o ensino na colônia, sendo este pautado na catequese, sob o comando dos jesuítas e com a manutenção financeira da coroa portuguesa.
Já em 1564, foi criado o primeiro sistema de cobrança de impostos que previa a aplicação de 10% da arrecadação para a manutenção dos colégios jesuíticos, ou seja, para a Educação na colônia, a qual se caracterizava como religiosa, sendo o ensino ministrado pelos jesuítas. Embora os recursos financeiros fossem de origem pública, a infraestrutura, os materiais pedagógicos, os agentes educacionais (jesuítas), as normas disciplinares e diretrizes pedagógicas eram de domínio privado, ou seja, sob o controle dos jesuítas.
Em 1759, o Marquês de Pombal rompe com os jesuítas da Companhia de Jesus, dando início a uma nova fase na educação brasileira, marcada pela “Reforma Pombalina”, que vigorou de 1759 a 1827, fase a qual podemos considerar como um ensaio da educação pública estatal.
Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, apenas uma ínfima parcela da população acessava as escolas, pois o acesso era restrito. Como pontua Marcílio (2005, p. 3), “estavam excluídas as mulheres (50% da população), os escravos (40%), os negros livres, os pardos, filhos ilegítimos e crianças abandonadas”.
Com o fechamento dos colégios jesuíticos em 1759, iniciaram-se as “aulas régias” mantidas pela Coroa e para as quais se criou um novo imposto em 1772, o “subsídio literário”. Em termos educacionais, cabe destacar que as reformas pombalinas romperam com as ideias religiosas, baseando-se em ideias laicas em termos de instrução, iniciando uma nova forma de “educação pública estatal” (SAVIANI, 2008).
Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, foi preciso implementar o Ensino Superior com o intuito de garantir o acesso aos serviços que anteriormente tinham na Europa: assim nasce o ensino superior baseado no modelo de instituto isolado e de natureza profissionalizante, elitista, apenas para atender aos filhos da aristocracia colonial, que não mais tinham acesso às academias europeias, sendo forçados a cursar estudos superiores por aqui mesmo, no Brasil. A primeira faculdade de medicina é criada em Salvador, em 1808: FAMEB – Faculdade de Medicina da Bahia (SOUZA, 1997).
Com a independência do Brasil em 1822, instaurou-se o Primeiro Império, política esta que estabeleceu, a partir de 1827, uma nova diretriz educacional que instituiu as escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Em 1834, o Ato Adicional à Constituição do Império colocou o ensino primário sob a responsabilidade das Províncias, desobrigando o Estado Nacional a cuidar desse nível de ensino.
É possível ver que desde os primeiros tempos de nossa história, a consolidação de uma Educação Nacional tem sido um desafio, principalmente em termos de educação pública e sua responsabilização como um bem nacional. Cabe destacar que as províncias não apresentavam estrutura financeira para financiar o ensino de forma local.
De 1889 a 1930, ou seja, durante a Primeira República, o ensino no Brasil continuou estagnado, com grande número de analfabetismo, correspondendo a mais da metade da população brasileira. Cabe destacar nesse período, como retoma Freitag (1980), foram criadas escolas superiores e escolas primárias e secundárias, o que ampliou o número de estabelecimentos, mas não o número de oportunidades educacionais, mantendo o sistema educacional elitista e excludente.
O grande marco expansionista e de investimentos foi sentido no ensino superior, pois muitas escolas superiores foram criadas nesse momento de nossa história, focando a formação de profissionais liberais, atendendo aos interesses da classe dominante visando sua manutenção no poder.
Em termos econômico, político e social, é importante recuperarmos que durante a Primeira República o Brasil vivenciou um momento de efervescência cultural que marcou as transformações sociais do século XX. Em 1922, a Semana da Arte Moderna foi um marco para a cultura brasileira. As inovações apresentadas naquele momento histórico geraram um entusiasmo em termos educacionais, levando a um “otimismo pedagógico”.
A partir disso, as reflexões acerca da escola primária aumentaram, contudo, somente após a Primeira Guerra Mundial que a política educacional passou a ser revista no Brasil.
2º período (1930 a 1960)
Nos anos de 1930, surge um movimento conhecido como “Movimento Escolanovista” formado por educadores como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Francisco Campos, que juntos buscavam renovar o ensino, organizando um manifesto, o qual seria conhecido mais tarde como “Manifesto dos Pioneiros da Educação”.
Esse manifesto denunciava o atraso do sistema educacional brasileiro e evidenciava a necessidade de ampliação da educação para toda a população, dando destaque à educação escolarizada. Enfim, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova surgiu em 1932 contendo uma nova proposta pedagógica e trazendo em seu bojo uma proposta de reconstrução do sistema educacional brasileiro, demandando por uma Política Educacional do Estado (PIANA,2009).
Cabe recuperar aqui que, em 1929, a economia mundial sofreu com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, e no Brasil a crise foi sentida em 1930, pois como nossa economia era agrícola, a superprodução do café, nosso principal produto de exportação, fez com que os preços sofressem uma queda no mercado internacional, o que ocasionou um colapso em nossas finanças públicas.
Nesse momento de nossa história republicana, o governo de Getúlio Vargas adotou medidas para diminuir o prejuízo dos cafeicultores em decorrência da crise e restringiu as importações dos bens de consumo, o que favoreceu e fortaleceu nossa produção industrial.
Portanto, somente no 2º período da História de Educação brasileira, ou seja, de 1930 a 1960, com o avanço da industrialização e urbanização que a pressão para uma maior escolarização se tornou uma demanda política e social, exigindo uma nova condição em termos de investimentos.
Você, futuro educador, consegue perceber, a partir dessa contextualização histórica, o quanto a economia pode influenciar nos rumos das Políticas Educacionais?
De um país agroexportador, o Brasil passa a se configurar também como um país com potencial industrial, da qual emergiu um novo grupo econômico: a burguesia urbano-industrial.
O País foi assumindo desta forma, uma política de industrialização e, consequentemente, esta mudança evidenciou uma reestruturação no seio da sociedade política e da sociedade civil, pois ao lado dos aristocratas e latifundiários do café, emergiu a burguesia financeira e industrial, e o operariado também sofreu ampliações.
Esse período foi marcado por grandes transformações no campo educacional brasileiro, pois se desenhou uma possibilidade de democratização no ensino, fruto das ideias dos “Escola Novistas”: Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Francisco Campos, pautados na concepção de “escola ativa” de Dewey.
Não podemos deixar de frisar que em 1930 criou-se o Ministério da Educação e Saúde, com a função de orientar e coordenar as reformas educacionais que aconteceriam adiante, entre as quais estavam a Reforma Francisco Campos, que integrou as escolas primária, secundária e superior e elaborou o estatuto da universidade brasileira. Através da Reforma Francisco Campos, a Política Educacional brasileira introduziu o ensino primário gratuito e obrigatório e o ensino religioso facultativo.
A Constituição de 1937 incorporou as indicações dessa reforma educacional e, visando fortalecer a industrialização nacional, introduziu o ensino profissionalizante na lei como obrigatório para as indústrias e sindicatos, os quais deveriam criar escolas na esfera de sua especialidade para os filhos de seus operários ou associados a fim de prepará-los para o trabalho nas indústrias.
É nesse cenário político e legalista que no ano de 1942 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e, em 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
Outra reforma que marcou a história da educação brasileira foi a Reforma Capanema, em 1942, relativa ao ensino secundário (PIANA, 2009).
3º período (1960 em diante)
Em 1946 foi promulgada uma nova Constituição, e juntamente com esse novo cenário político marcado pela redemocratização do Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial (1945), baseado num Estado populista desenvolvimentista, é que surgem, no campo da educação, movimentos em favor da escola pública, universal e gratuita que culminam, em 1961, na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Brasil: Lei nº 4.024/1961.
Essa foi nossa primeira LDB – Lei de Diretrizes e Bases. De acordo com essa lei, o ensino no Brasil de nível primário poderia ser ministrado pelo setor público e privado, extinguindo a obrigatoriedade do ensino gratuito, o que permitia a subvenção estatal de estabelecimentos de ensinos particulares através de bolsas de estudo e empréstimos.
Dentro da Política Educacional brasileira, a LDB se configurou como uma das medidas que marcou os rumos da educação no Brasil. Vale destacar que entre 1961 a 1963, o Brasil foi marcado por várias mudanças no campo político, social e econômico que, por sua vez, impactaram na educação nacional, considerando que o índice de analfabetos revelava as desigualdades, não apenas educacionais, mas também sociais e econômicas.
Com o início da ditadura militar, em 1964, o Estado ampliou o sistema de ensino, inclusive o superior e estendeu o ensino obrigatório de quatro para oito anos. Contudo, cabe destacar que nesse período os movimentos sociais passam a se organizar para demandar a implementação de Políticas que respondessem suas necessidades enquanto Políticas Públicas.
Quanto ao problema do analfabetismo, é nesse período de nossa história da Educação que desponta o educador Paulo Freire, que, com seu método pedagógico de alfabetização, compreendia a Educação como prática da libertação e da conscientização política por meio da prática da leitura e da escrita, como veremos mais adiante.
Legislação Educacional
As forças sociais tiveram um papel preponderante para o retorno da democracia enquanto política brasileira. Durante o período da transição do autoritarismo para a democracia, as propostas educacionais foram foco de discussão entre diferentes setores sociais, os quais funcionaram como grupos de pressão para a formulação da Constituição de 1988, que, por sua vez, expressa a política educacional do Brasil contemporâneo.
A Constituição Federal de 1988, promulgada após amplo movimento de redemocratização do País, marca um novo período. Ampliam-se as responsabilidades do Poder Público e da sociedade em geral para com a educação, a partir das novas demandas do mundo moderno e globalizado, em atendimento ao ideário neoliberal. Essa Lei apresenta o mais longo capítulo sobre a educação de todas as Constituições Brasileiras, pois apresenta dez artigos específicos (art. 205 a 214) que detalham a matéria, que também figura em quatro artigos do texto constitucional (Art. 22, XXIV; 23, V; 30, VI e Art. 60 e 61 das Disposições Transitórias.
Com promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, temos uma nova realidade brasileira pautada numa ordem política que declara, como um de seus princípios, a descentralização político-administrativa garantindo à sociedade o direito de formular e de controlar políticas, redimensionando relações entre Estado e sociedade civil. Entre as conquistas afirmadas na referida legislação estão:
A Constituição Federal de 1988 fez emergir também a ideia de Plano Nacional de Educação, apontando sua necessidade.
A ideia de um “Plano Educação” existia desde a década de 1930 no Brasil, porém, apenas planos menores e pontuais aconteceram desde então. A ideia de um Plano Nacional de Educação ganhou força com a Constituição de 1988, que em seu artigo 214 destacou:
Art. 214. - A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:
I – Erradicação do analfabetismo;
II – Universalização do atendimento escolar;
III – Melhoria da qualidade do ensino;
IV – Formação para o trabalho;
V – Promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.
A regulamentação da previsão constitucional do Plano Nacional de Educação (PNE) aconteceu em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/1996.
Vale destacar aqui que o PNE é um plano de Estado, não um plano de governo, portanto, seu processo de elaboração pode acontecer em diferentes instâncias: federal, estadual e municipal, originando os Planos Estaduais e Municipais em conexão com o PNE, cuja vigência no Brasil é de dez anos.
De acordo com a LDB nº 9.394/1996, o PNE seria elaborado pela União, com colaboração dos demais entes federativos (estados, municípios e Distrito Federal), pois, segundo a Constituição Federal brasileira, a Educação é responsabilidade compartilhada. O artigo 211 da CF reforça essa ideia.
Conforme pontua o referido artigo, cabe aos Municípios prioritariamente o ensino fundamental e a educação infantil; aos Estados e ao Distrito Federal compete prioritariamente o ensino fundamental e médio; e destaca ainda que a verba destinada à educação será redistribuída entre a União e os entes federativos.
O Quadro 1.3 apresenta a organização e o funcionamento da Educação Nacional com a LDB.
| LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/1996 Níveis e Modalidades de ensino |
|||||
| EDUCAÇÃO BÁSICA | Educação Infantil: creche e pré-escola Ensino Fundamental Ensino Médio |
||||
| ENSINO SUPERIOR | Graduação Pós-Graduação |
||||
Vale retomar que a primeira LDB foi promulgada em 1961 (Lei nº 4.024/1961) e apresentava outra configuração em termos organizacionais.
Pela Lei nº 9.394/1996, o governo passou a assumir a política educacional como tarefa de sua competência, descentralizando sua execução para Estado e municípios. A Política de Avaliação da Educação em todos os níveis de ensino também passou a ser exercida, buscando um “controle” do sistema escolar.
Assim, nos anos de 1990, o tema “descentralização” ganhou um local de destaque na Educação brasileira, acompanhado da “gestão democrática”, no sentido de possibilitar a participação de diferentes atores no processo educativo, inaugurando, como pontua Piana (2009), o sentido democrático da prática social da educação.
No quadro a seguir, você, futuro educador, pode rever alguns marcos da História da Educação no Brasil, apresentados nesta seção, visando favorecer a compreensão acerca do processo histórico que tem permeado as Políticas Educacionais e as legislações que fundamentaram em nosso país.
| Período Jesuítico (1549–1759) |
|
| Período Pombalino (1760-1808) |
|
| Período Joanino (1808–1821) |
|
| Período imperial (1822-1889) |
|
| República Velha (1889-1929) |
|
| Segunda República (1930-1936) |
|
| Estado Novo (1937-1945) |
|
| República Nova (1946-1963) |
|
| Ditadura Civil-Militar (1964-1985) |
|
| Nova República (pós-ditadura - a partir de 1985) |
|
Quando falamos em Educação, você considera necessário compreender as políticas que a sustentam?
Você acredita que o cenário econômico determina os rumos das Políticas Educacionais?
Quando falamos em PNE, por exemplo, vale destacar que ele é composto por várias metas. O atual PNE, Lei nº 13.005 aprovada em 2014, apresenta 20 metas e tem a duração decenal (2014-2024).
A meta 1, por exemplo, refere-se à Educação Infantil: “universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE”.
Assim, como apresentamos aqui a meta 1, você pode acessar o Plano Nacional e conhecer todas as metas para a Educação Nacional.
Estamos chegando ao final de mais uma seção da disciplina “Funcionamento da Educação Brasileira e Políticas Públicas”, lembrando que nosso foco foi resgatar a trajetória histórica da Educação Brasileira, focando a hierarquia das leis e da ação da legislação na normatização da Educação Nacional.
Nesse contexto, vimos o papel da Constituição como lei maior do país dentro dos princípios democráticos, embasando as demais legislações em termos normativos, bem como pontuando o papel dos entes federados e as responsabilidades de cada um na organização da Educação em regime de colaboração, como prevê a Carta Magna, ou seja, a Constituição Federal do Brasil.
Seguiremos conversando sobre o cenário político, econômico e social, pois vemos o quanto cada um deles interfere na formulação das Políticas Públicas, dando ênfase à atual legislação educacional, as quais configuram a Política Educacional.
Conto com você nessa caminhada! Vamos em frente!
Para falarmos da organização e do funcionamento da Educação é importante conhecermos as legislações que a regulamentam e destacar que existem hierarquias entre as leis, vigorando o princípio da Supremacia da Constituição, ou seja, segundo o qual as normas constitucionais estão num patamar de superioridade em relação às demais leis. Pensando na normatização e nessa hierarquia, é importante destacarmos que existem três grupos de normas legais: Normas constitucionais, Normas infraconstitucionais e Normas infralegais.
Leia as afirmações a seguir e analise se são verdadeiras.
Indique a alternativa que apresenta a resposta correta.
Correto!
Considerando que temos três grupos de leis e que existe hierarquia entre eles, com a supremacia das normas Constitucionais, cabe destacar que no interior de um mesmo grupo de leis não há hierarquia, o que existe é campo de atuação diferenciado específico entre essas normas que compõem o mesmo grupo, lembrando que as normas constitucionais estão acima das demais normas. Quando falamos em organização e funcionamento da Educação brasileira, devemos considerar sua regulamentação constitucional, ou seja, as Normas Constitucionais.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Em termos econômico, político e social, é importante recuperarmos que durante a Primeira República o Brasil vivenciou um momento de efervescência cultural, que marcou as transformações sociais do século XX. Em 1922, a Semana da Arte Moderno foi um marco para a cultura brasileira. As inovações daquele momento histórico geraram um entusiasmo em termos educacionais, levando a um “otimismo pedagógico”.
Diante do contexto apresentado, analise as afirmações a seguir e coloque V (para Verdadeiro) ou F (para Falso):
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta, de cima para baixo.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Correto!
Durante a primeira República, ou seja, de 1889 a 1930, era grande o analfabetismo no Brasil.
Embora tenham sido criadas escolas superiores, escolas primárias e secundárias, ampliando o número de estabelecimentos, não se ampliou as oportunidades educacionais. Diante desse contexto, surge um movimento de educadores que tinham como proposta renovar a educação brasileira, rompendo com o elitismo do sistema. Esse movimento conhecido como “Movimento Escolanovista” lançou o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, visando inovar a educação e democratizá-la para a população brasileira.
Com promulgação da Constituição Federal do Brasil, em 5 de outubro de 1988, temos uma nova realidade brasileira, pautada numa ordem política que declara, como um de seus princípios, a descentralização político-administrativa, garantindo à sociedade o direito de formular e de controlar políticas, redimensionando relações entre Estado e sociedade civil. Quanto às propostas educacionais, a Constituição Federal traz a democratização como marca para as Políticas Educacionais.
Leia as afirmações a seguir e analise se são verdadeiras.
Indique a alternativa que apresenta a resposta correta.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Correto!
A Constituição de 1988 é a constituição cidadã que concebe a educação como direito público subjetivo, na qual a gestão é democrática e há a ampliação da educação como direito, desde a educação infantil até seu acesso para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, colocando o ensino fundamental como obrigatório e gratuito.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
ARANHA, M. L. A. História da educação. São Paulo: Moderna, 1989.
BITTENCOURT, P. O. S.; CLEMENTINO, J. C. Hierarquia das leis. Revista @lumni, v. 2, 2012. P. 1-12. Disponível em: https://bit.ly/2OxiDhE. Acesso em: 3 out. 2020.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://bit.ly/3b9Eof3. Acesso em: 23 mar. 2020.
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 jul. 1990.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
BRASIL. Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível em: https://bit.ly/3u0ugxQ. Acesso em: 2 out. 2020.
DIAS, J. A. Sistema escolar brasileiro. In: MENESES, J. G. (et.al.). Educação Básica: políticas, legislação e gestão – Leituras. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p.127-136.
DOURADO, L. F. Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil: limites e perspectivas. Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n 100 – Especial, p. 921-946, out. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3b8YdDl. Acesso em: 2 out. 2020.
FREITAG, B. Escola, Estado e Sociedade. 4 ed. São Paulo: Moraes, 1980.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. Elementos para uma análise crítico-compreensiva das políticas educacionais: aspectos sociopolíticos e históricos. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009. p127-145.
MARCÍLIO, M. L. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial, 2005.
PIANA, M.C. A construção do perfil do assistente social no cenário educacional. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 233 p.
PINHO, R. C. R. Da organização do estado, dos Poderes, e histórico das constituições. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
SAVIANI, D. Política Educacional Brasileira: limites e perspectivas. Revista de Educação PUC – Campinas, Campinas, n. 24, p. 7-16, 2008. Disponível em:
SAVIANI, D. A política educacional no Brasil. In: STEPHANOU, M.; BASTOS, M.H.C. (org.). Histórias e Memórias da educação no Brasil. Vol. III: Século XX. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 30-39.
SOUZA, D. B.; FARIA, L. C. M. Reforma do Estado, descentralização e municipalização do ensino no Brasil: A gestão política dos sistemas públicos de ensino pós-LDB 9.394/96. Revista Ensaio, v. 12, n.45. Rio de Janeiro, Out/Dez, 2004. Disponível em: https://bit.ly/3dhwHXc. Acesso em: 10 dez. 2020.
SOUZA, P. N. P. LDB e Educação Superior: Estrutura e funcionamento. São Paulo: Thomson Pioneira, 1997.
VIEIRA, S. L.; ALBUQUERQUE, M. G. M. Políticas internacionais e educação: uma agenda para debate. In: ______. Política e planejamento educacional. 2ª ed. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2001, p. 43- 56 e 61-70.