0%
Comentários
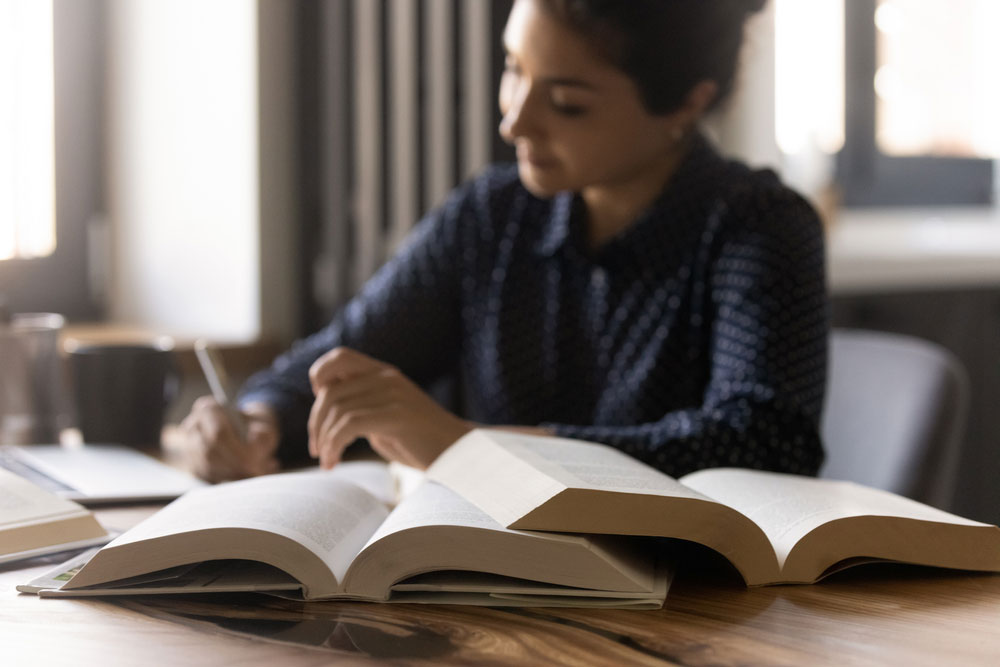
Fonte: Shutterstock.
Deseja ouvir este material?
Áudio disponível no material digital.
Provavelmente, você já se perguntou o que torna o conhecimento científico diferenciado em comparação com outras formas de conhecimento, razão pela qual diversas grandes potências reservam uma parcela de seu PIB para investir em ciência e tecnologia, mas não encontrou nenhuma explicação dentro de um contexto histórico apropriado que detalhasse as principais características do conhecimento científico.
Sem um contexto adequado é impossível discutir o que é conhecimento científico, bem como explicar quais seriam suas características e o porquê desse tipo de conhecimento ser único em sua espécie. Por causa dessa dificuldade de entendimento da ciência, você, em alguma parte de sua vida, perguntou: “Por que os cientistas estudam planetas distantes em vez de concentrarem seus esforços em problemas sociais vigentes, como a desigualdade social, a extrema pobreza e a desnutrição?” ou “Por que investir milhões de dólares em pesquisas básicas?”
Com um pouco de tratamento filosófico e história da ciência, seria possível responder que diversos esforços coletivos promovidos dentro do contexto da história da Era Espacial contribuíram direta e indiretamente para o surgimento de tecnologias usadas no dia a dia, como travesseiros, painéis solares, satélites artificiais, detectores de fumaça e muitos outros. Poderia também ser respondido que uma compreensão profunda da genética levou ao desenvolvimento de alimentos transgênicos, que são ricos em proteínas, contribuem para a redução do uso de agrotóxicos e auxiliam diretamente no combate à desnutrição em países do continente africano.
Explicar a origem de todo esse processo de construção de conhecimento enriquece a cultura à medida que revela como as características do conhecimento científico auxiliam no progresso tecnológico, principalmente na produção de vacinas em contextos de pandemias, como a da Gripe Espanhola e do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Em uma sala de aula, um professor de Filosofia da Ciência escolhe três alunos com o objetivo de atribuir a cada escolhido uma disciplina que alegue o status de ciência: a primeira disciplina é a Astronomia (atribuída ao aluno A), a segunda disciplina é a Sociologia (atribuída ao aluno B) e a terceira disciplina é a Psicanálise (atribuída ao aluno C).
Em seguida, os alunos são convidados a aplicar o ceticismo científico na disciplina atribuída a eles para avaliar suas hipóteses e teorias, bem como questionar suas bases analisando a possível compatibilidade com os resultados da ciência.
Supondo que os alunos tiveram êxito no trabalho proposto, considere o resultado a que cada aluno chegou:
Normalmente, o próprio aluno C poderia indagar sobre o motivo pelo qual a psicanálise ainda mantém um local prestigiado em universidades públicas e particulares, sendo que ela falha em cumprir os requisitos mínimos esperados de um campo que alega produzir conhecimento científico.
Quais seriam os possíveis indicadores que revelariam o porquê de certas pseudociências, como a psicanálise, ainda manterem algum prestígio na academia, mesmo não cumprindo requisitos esperados de uma atividade que preza pela verdade?
A ciência é mais que um corpo de conhecimento, é uma forma de pensar, uma forma cética de interrogar o universo, com pleno conhecimento da falibilidade humana. Se não estamos aptos a fazer perguntas céticas para interrogar aqueles que nos afirmam que algo é verdade, e sermos céticos com aqueles que são autoridade, então estamos à mercê do próximo charlatão político ou religioso que aparecer.
Algumas características essenciais do conhecimento científico mostram como ele é um conhecimento único em sua espécie, trazendo maior nível de confiabilidade em comparação com outros tipos de saberes no mundo contemporâneo. Um aspecto central é seu princípio de sistematização, que é basicamente a forma como seus enunciados são estruturados logicamente, evitando confusões da linguagem ordinária, como contradições lógicas e polissemia.
A sistematização do conhecimento científico permite que seus enunciados não entrem em contradição ao longo de uma explicação a respeito de algum fenômeno da realidade, evitando a utilização de jargões desnecessários e, por vezes, incompreensíveis, como sentenças que fazem parte de muitos sistemas filosóficos dos chamados filósofos do irracionalismo, como Friedrich Hegel e Martin Heidegger.
A adoção de uma estrutura lógica dentro de enunciados científicos permitiu que qualquer discurso ou método dialéticos fosse extirpado do conhecimento científico, contrariando a crença popular de que a dialética é um elemento indispensável na atividade científica. Isso ocorre desde o surgimento da ciência moderna, admitindo tacitamente o Princípio da Não Contradição de Aristóteles, que assegura que afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Portanto, a ciência evita o uso de proposições contraditórias, como “esse círculo é quadrado”, “toda verdade é uma mentira” e “tudo é relativo”.
A dialética é um conceito problemático desde Heráclito, significando em seus primórdios a ideia de que existe um Princípio da Unidade dos Contrários, ou seja, a ideia de que todas as coisas que existem possuem uma contraparte ou uma entidade oposta (por exemplo, partículas e antipartículas). Muitos séculos depois, o filósofo Hegel buscou desenvolver a dialética dentro de seu sistema filosófico, admitindo alguns pressupostos da tese original, como a ideia de que existe uma unidade dos opostos e a noção segundo a qual todas as coisas mudam. No entanto, Hegel foi muito pouco claro sobre o que ele queria dizer com “dialética”, de modo que até hoje não existe um consenso entre filósofos sobre o que ela é: uma lógica não clássica, que romperia com o Princípio da Não Contradição da ciência moderna; uma ontologia das coisas; ou simplesmente ambas. Apesar do extenso debate filosófico sobre a dialética, ela não conseguiu ganhar espaço em nenhuma ciência natural, social ou biossocial – nem mesmo na ciência formal, com a lógica e a matemática.
Outro aspecto central do conhecimento científico é a falibilidade, que significa que todo discurso científico é passível de correção, evitando assim qualquer tipo de dogmatismo, como a estagnação de uma hipótese científica e o culto à autoridade. Esse conceito está presente na tese do filósofo da ciência Karl Popper (2013), que estipulou que a falseabilidade ou refutabilidade é a condição para refinar cada vez mais hipóteses e teorias científicas.
Esse princípio de falseabilidade é importante para a estruturação de hipóteses iniciais ou primitivas, por polir afirmações destituídas de evidências científicas, mas não é um critério de demarcação satisfatório para produzir conhecimento científico. Na verdade, mesmo que alguns cientistas considerem que a ciência siga o modelo popperiano, nenhum filósofo da ciência considera-o como um critério satisfatório – especialmente porque a pseudociência também mantém um nível de conciliação com o respectivo critério de demarcação.
A falibilidade permite que a ciência progrida com novos dados e evidências, fazendo também com que as teorias sejam cada vez mais (re)ajustadas à realidade, produzindo um conhecimento diferenciado em comparação com os outros, sendo então mais profundo e verdadeiro. Essa posição também é admitida por filósofos científicos – ou seja, filósofos que estão em dia com os resultados da ciência e tecnologia –, que assumem que a ciência produz um tipo de conhecimento mais profundo e verdadeiro.
A ciência também mantém em seu núcleo um aspecto de questionabilidade ou ceticismo, que significa dúvida metodológica e consiste na adoção do ceticismo científico, que é o princípio segundo o qual todas as hipóteses e teorias devem ser questionadas de forma metódica, responsável e cientificamente orientada. Isso significa que a ciência não adota um tipo de ceticismo conhecido como radical, em que tudo deve ser questionado, que advoga por um questionamento absoluto, irresponsável, descontrolado e, portanto, dogmático. A questionabilidade promovida na ciência é a que submete alegações e hipóteses destituídas de evidências razoáveis à crítica de outros cientistas, promovendo um diálogo construtivo, sadio e útil para o desenvolvimento da ciência.
O ceticismo científico não deve ser confundido com o negacionismo da ciência, que é a posição que defende a rejeição completa ou parcial do conhecimento científico. O negacionismo da ciência está atrelado a posições ideológicas de seus praticantes, entrando em cena quando a ciência revela um fato em relação ao qual a pessoa está em desacordo por alguma razão política, religiosa ou cultural. Alguns exemplos de negacionismo da ciência incluem a negação de efetividade das vacinas, a rejeição da circunferência da Terra, a depreciação das consequências das mudanças climáticas e a resistência em aceitar a evolução biológica das espécies através do processo de seleção natural.
No contexto do conhecimento científico, o conceito de objetividade não deve ser confundido com objetivismo, que é doutrina ideológica e pseudofilosófica de Ayn Rand. A objetividade se refere à pretensão clara e objetiva na formulação de enunciados científicos, evitando o subjetivismo interpretativo, que é a noção segundo a qual é possível a extração de diversas interpretações e múltiplos significados de um determinado texto. Por conta de a linguagem científica ser diferente da linguagem ordinária, principalmente pela sua construção lógica e sistematização, o subjetivismo não faz parte das proposições científicas.
A objetividade é atrelada a uma concepção positiva de ciência, cujo papel é o acúmulo gradual de conhecimento por meio da confirmação empírica, em vez de uma estrutura desordenada que desmorona a cada nova revolução científica, como defendeu de forma irresponsável o filósofo e historiador da ciência Thomas Kuhn. Segundo Kuhn (2017), a ciência muda como a moda, de modo que o objetivo da ciência não seria mais a verdade. No entanto, essa concepção ignora que todas as revoluções científicas são sempre parciais, que elas nunca rompem totalmente com o conhecimento anterior, como é o caso da mecânica clássica de Newton, que, mesmo após o surgimento da teoria da relatividade geral e da mecânica quântica, ainda permanece válida para calcular a trajetória de objetos terrestres e continua sendo usada para enviar foguetes ao espaço.
A teoria da evolução de Charles Darwin também é outro exemplo dessa característica positiva da ciência, pois ela foi atualizada com os dados da genética e da biologia molecular, revelando um panorama ainda mais abrangente sobre a evolução das espécies, explicando até a origem de certos traços comportamentais nos seres humanos modernos. No entanto, a ciência não progride apenas com base em experimentos, ela precisa de racionalidade.
A racionalidade presente no conhecimento científico pode ser explicada de duas formas, pelo menos: a ideia de que todo discurso científico é debatível de forma organizada (com o exercício do uso da razão) ou a ideia de que o raciocínio formal é um alicerce na construção do conhecimento científico. A primeira ideia pressupõe tacitamente características anteriormente explicadas, como as noções de sistematização e de objetividade, de modo que apenas com uma linguagem compreensível, logicamente e objetivamente coerente, é possível discutir racionalmente conhecimentos e problemas científicos, enquanto a segunda exprime a ideia de que a construção de conceitos lógicos e formais serve para representar objetos que possuem existência concreta, material e real na realidade, como campos, partículas e cérebros.
De acordo com a última definição, sem o raciocínio formal, o qual consiste na ciência formal da lógica e da matemática, nenhum conhecimento seria possível, pois são necessários sempre símbolos e expressões matemáticas não apenas para representar objetos, mas também para quantificar os dados oriundos da investigação científica. Até mesmo a filosofia contemporânea, como a filosofia analítica e a filosofia científica, trata o raciocínio lógico-matemático como essencial para a produção de conhecimento filosófico. No entanto, o conhecimento científico busca trabalhar com o raciocínio formal visando fornecer uma explicação mais adequada com base nos dados e nas evidências da investigação científica, de modo que não é um mero exercício lógico destituído de valor empírico.
A pretensão de elaborar cada vez mais proposições e teorias ajustadas à realidade revela o aspecto de explicabilidade da ciência. Sem a pretensão de explicar a realidade, ou algum de seus níveis em particular (físico, químico, biológico, psicológico, social, artificial, etc.), os cientistas não teriam qualquer motivo para investigar o mundo e produzir conhecimento científico. A explicabilidade, portanto, refere-se simplesmente ao papel da ciência em investigar o mundo e prover conhecimentos cada vez mais profundos sobre as coisas.
O conhecimento científico é justamente difícil de definir por conta de suas diversas características. Em comparação com o conhecimento religioso, por exemplo, apenas o conhecimento científico tem como preocupação a revisibilidade de seus conceitos e teorias mediante a investigação científica. Enquanto o conhecimento religioso admite múltiplas interpretações de um texto como igualmente válidas, o que importa no conhecimento científico é a compatibilidade de seu corpo de conhecimento com as evidências, independente do que um cientista pensa a respeito. Pelo mesmo motivo, a ciência não deve ser comparada com a política, pois seu conhecimento não é decidido como verdadeiro mediante uma votação por decreto ou escolha da população. O conhecimento científico é tratado como verdadeiro quando os resultados de uma investigação apontam numa determinada direção.
Já a autonomia existente na ciência pode se referir ao âmbito individual e coletivo, como quando um cientista tem liberdade para investigar - seguindo os protocolos éticos da pesquisa científica - e quando a ciência tem liberdade para investigar problemas que contradizem anseios políticos. Por exemplo, quando os cientistas sociais podem estudar livremente os impactos das desigualdades sociais nas populações de baixa renda, ou quando o objeto de estudo são os efeitos sistêmicos das mudanças climáticas, que, normalmente, contradizem interesses privados de empresas ou políticos. Contraexemplo: quando os cientistas são impedidos de investigar por conta de sua nacionalidade ou etnia, como ocorreu com os físicos judeus durante a emergência do nazismo na Alemanha, ou quando os pesquisadores são perseguidos pelo governo com a desculpa de serem infiltrados de uma potência mundial rival ou advogarem por uma suposta ideologia contrária à aceita pelo Estado, como aconteceu no caso dos geneticistas de plantas na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Mesmo com todas as dificuldades que a história da ciência revela sobre o processo de construção do conhecimento científico ao longo dos séculos, toda a experiência passada é traduzida em conhecimento sociológico, revelando que a ciência e a política, embora sejam atividades completamente distintas, dependem de uma relação amigável para prosperarem, seja para promover a investigação científica fornecendo recursos financeiros do Estado, seja para usar os resultados científicos na elaboração de políticas públicas mais justas.
A acumulabilidade do conhecimento científico é o que justifica seu aspecto de progresso, justamente porque exemplos de experimentos malsucedidos são considerados, não apenas para refletir sobre os desafios metodológicos e epistemológicos da ciência, mas também para aumentar o rigor necessário durante a avaliação dos trabalhos que são submetidos para revistas científicas. Mais ainda, os resultados negativos na ciência, com base no olhar sociológico, podem revelar aspectos que foram negligenciados sistemicamente durante a época de aceitação ou implementação de uma ideia. Por exemplo, a aplicação política de ideias pseudocientíficas, que já não eram muito bem aceitas, no início do século XX, como a eugenia e o darwinismo social, levou ao extermínio de judeus, negros, pobres e pessoas com deficiência, sob o pretexto de “busca pela pureza genética”.
A elucidação da pseudociência só foi possível graças ao princípio de verificabilidade da ciência, que é a ideia segundo a qual um enunciado, uma hipótese ou uma teoria deve ser passível de ser colocada à prova. No entanto, o conceito de verificabilidade requer um contexto adequado por conta de sua polissemia.
A noção mais forte de verificabilidade foi apresentada pelo lógico Rudolph Carnap, durante a emergência do positivismo lógico do Círculo de Viena. Esse círculo era formado por um grupo de cientistas e filósofos interessados nos problemas filosóficos, históricos e sociológicos da ciência. A despeito dos mitos que circulam sobre o círculo, eles defendiam teses bastantes heterogêneas, tinham preocupações políticas e sociais sobre a atividade científica, não eram ingênuos e nem reducionistas (não reduziam todo o conhecimento às ciências naturais) e buscavam uma linguagem universal para a ciência. No entanto, a tese de Carnap ficou imensamente conhecida ao ponto de ser tratada equivocadamente como representativa de todo o círculo.
A tese verificacionista de Carnap postulava que uma proposição tem sentido se, e somente se, existir alguma circunstância que permita sua verificação. Se não existisse alguma possibilidade de verificação, a proposição seria considerada como destituída de sentido e significado e, portanto, ela não faria outra coisa a não ser trazer pseudoproblemas. Essa tese foi duramente golpeada, justamente por outro filósofo que era simpatizante do círculo, mas que não fazia parte dele: Karl Popper.
Karl Popper enfatizou que a tese não era suficiente como um critério para proposições, além de diversos outros problemas enumerados em sua obra A Lógica da Pesquisa Científica (2013), argumentando que a condição de verificabilidade não é suficiente para que uma proposição ou teoria seja considerada científica, mas simplesmente a condição de sua possível refutação. Para Popper, uma teoria é científica se, e somente se, existir alguma circunstância que permita sua refutação. Se não existir nenhuma circunstância passível de refutação, a teoria não é considerada científica. Com isso, Popper lançou as bases de sua hoje conhecida tese: o falseacionismo.
A ciência não se resume a uma atividade puramente empírica. Ela também contempla disciplinas que lidam com aspectos formais do método científico, que usam seu aspecto de racionalidade para investigar problemas matemáticos, lógicos e semânticos. Para clarificar essa abrangência, é necessária uma distinção rápida sobre esses dois tipos de ciências: a ciência fática (ou factual) e a ciência formal.
Como explica o filósofo Mario Bunge em seu livro La Ciencia, su Método y su Filosofía (2014), a ciência fática lida com entes concretos ou materiais (como campos, partículas, animais, pessoas), adequa-se aos fatos e possui consistência empírica (como a física, a química, a biologia, a psicologia, a sociologia), enquanto a ciência formal lida com entes ideais (como números, conceitos, axiomas), adequa-se a um conjunto de regras e possui consistência racional (como a lógica e matemática). No entanto, tanto a ciência fática como a ciência formal normalmente se cruzam em um processo de enriquecimento contínuo.
A ciência formal fornece à fática a analiticidade essencial para sua sistematização, formalização e objetividade. Com esse tratamento analítico, o conhecimento científico se torna mais exato, porque evita-se a ambiguidade e a armadilha da linguagem ordinária. Desse modo, justifica-se a definição de Bunge (2014) da ciência como um tipo de conhecimento sistemático, racional, exato, verificável e, portanto, falível, sendo a melhor reconstrução conceitual do mundo do qual fazemos uso.
Finalmente, a ciência preza pela comunicabilidade, ou seja, os resultados científicos são passíveis de serem comunicáveis de forma objetiva para quaisquer pesquisadores ao redor do mundo. Mais ainda, os resultados podem ser traduzidos na linguagem ordinária com o objetivo de visar à popularização da ciência e ao enriquecimento cultural através da atividade de divulgação científica.
Devido à natureza peculiar do conhecimento científico, suas diversas características revelam o porquê de ele poder ser considerado como um tipo de conhecimento mais profundo, verdadeiro e confiável. Embora muitos argumentem que o aspecto autocorretivo seja uma sentença de risco, o que levaria a duvidarmos cada vez mais do nível de verdade e profundidade desse tipo de conhecimento, ignora-se que a requerida compatibilidade das teorias com as evidências é o que aproxima a ciência da descrição mais precisa o possível da realidade.
O ceticismo científico é uma das características fundamentais da ciência e de toda a atividade intelectual. O astrônomo e divulgador científico Carl Sagan escreveu uma obra chamada O Mundo Assombrado Pelos Demônios (2006), em que ele descreve exemplos de aplicação do ceticismo científico na vida cotidiana. O ceticismo, argumenta Sagan, é uma ferramenta indispensável para não deixar enganar a nós mesmos.
Qual é a definição de ceticismo científico?
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Correto!
O ceticismo científico é uma posição moderada que foi defendida pelo filósofo Paul Kurtz e pelo astrônomo e divulgador científico Carl Sagan. Esse tipo de ceticismo é aplicado como uma abordagem metodológica para avaliar afirmações e hipóteses acerca das quais não existem evidências suficientemente fortes para apoiá-las. O ceticismo científico também pode ser aplicado em situações da vida cotidiana, como quando compramos um objeto usado e perguntamos sobre suas reais condições. Ele pode, ainda, ser aplicado no âmbito coletivo da investigação científica, quando uma hipótese é levada à crítica responsável da comunidade científica – por exemplo, quando os cientistas analisam os principais problemas de uma determinada hipótese e a qualidade de sua evidência para apoiá-la ou refutá-la. Sem ceticismo, o dogmatismo reinaria não apenas na ciência, mas em toda atividade intelectual.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
A verificabilidade é a noção que advoga a preocupação com o teste experimental. No entanto, essa posição não pode ser confundida com o verificacionismo do Círculo de Viena e nem com o falseacionismo do filósofo da ciência Karl Popper.
O que significa verificacionismo?
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Correto!
O verificacionismo é a tese filosófica do lógico Rudolf Carnap, que era membro do Círculo de Viena do positivismo lógico. Essa tese assume que uma proposição tem sentido se, e somente se, existir uma circunstância que permita sua verificação. Se não existir, a proposição não faria outra coisa senão trazer pseudoproblemas. Nos anos 1930, essa tese foi duramente criticada pelo filósofo da ciência Karl Popper. Em comparação com o verificacionismo, a tese falseacionista de Popper assume um critério exclusivo para hipóteses e teorias que pretendem ser científicas. Segundo Popper, uma teoria é científica se, e somente se, existir uma circunstância que permita sua refutação. Se não existir, a teoria não pode ser considerada científica.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
A lógica é uma ciência formal, embora possa ser aplicada na ciência fática com o objetivo de proporcionar melhor clareza e objetividade para os enunciados científicos. Seu uso evita a ambiguidade da linguagem ordinária, facilita o entendimento conceitual e impede a contradição no conhecimento científico. A dialética, por outro lado, tolera contradições e ambiguidades da linguagem ordinária. No entanto, ela ainda é considerada por muitos como uma ferramenta essencial para a ciência, os quais acabam ignorando suas implicações com o Princípio da Não Contradição de Aristóteles e defendendo que ela serve como uma técnica de comparabilidade entre ideias aparentemente distintas, a partir da qual, de alguma forma, seria possível a extração de uma nova ideia ou hipótese.
Historicamente, qual pensador é considerado o pai da dialética?
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Tente novamente...
Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.
Correto!
O filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso (500 a.C.-450 a.C.) é considerado o pai da dialética. Ele é conhecido por formular algumas noções que são preservadas ainda hoje em versões mais contemporâneas da dialética, como o Princípio da Unidade dos Contrários e o Princípio de Mutabilidade dos fenômenos da realidade. O primeiro princípio defende que todo ente possui uma contraparte (por exemplo, partícula e antipartícula), enquanto o segundo assume que a realidade em todos os seus níveis está em constante movimento (como o fluxo de corrente de ar ou água do mar).
BUNGE, M. La Ciencia, su Método y su Filosofía. [S.l.]: Editora Sudamericana, 2014.
CARNAP, R. The Logical Structure of the World and Pseudoproblems in Philosophy. [S.l.]: Editora Open Court, 2003.
MARCONDES, D. Textos Básicos de Filosofia e História das Ciências: a revolução científica. [S.l.]: Editora Zahar, 2016.
POPPER, K. A Lógica da Pesquisa Científica. 2. ed. [S.l.]: Editora Cultrix, 2013.
SAGAN, C. O Mundo Assombrado Pelos Demônios: a ciência vista como uma vela no escuro. [S.l.]: Editora Companhia de Bolso, 2006.