Heterogeneidade da língua
"A heterogeneidade da língua é espelho da heterogeneidade da sociedade.” (Carlos Alberto Faraco)

Fonte: Freepik.
Deseja ouvir este material?
Áudio disponível no material digital.
Praticar para aprender
Vivemos em uma sociedade plural, rica em diversidade. Em nossas atividades cotidianas, indivíduos de distintos gêneros, orientações, crenças, raças e posicionamentos buscam o pleno convívio social. Com a linguagem – nosso meio de comunicação – não poderia ser diferente, uma vez que não é possível separar língua e sociedade; nosso idioma não é homogêneo, pois varia a depender de regiões, fatores socioeconômicos, faixa etária, gênero, estilos etc., sobretudo em se tratando de um país tão grande e multiétnico como o nosso. É preciso, portanto, compreensão e, acima de tudo, respeito a essas variedades linguísticas.
Sabemos que o conhecimento consistente das variedades ainda é pouco difundido entre os professores em geral, inclusive entre professores de Língua Portuguesa e entre os estudantes de Letras. Portanto, nesta seção, estimado aluno e futuro professor, convidamos você a conhecer um pouco mais a respeito dessas variedades que permeiam nossa linguagem.
Você já deve ter parado para refletir acerca de nosso léxico, tão vasto e diverso. Por exemplo, se você mora em São Paulo, talvez tenha estranhado ouvir algum conhecido seu da região Sul lhe oferecer uma bergamota, em vez de uma mexerica; ou então, se você mora em determinada região do Nordeste, talvez não tenha entendido quando um colega do Paraná pediu pão francês, em vez de carioquinha na padaria. Essas e muitas outras diferenças de vocabulário são bastante frequentes no Português Brasileiro.
A passagem do tempo, a qual permite tantas mudanças e transformações em nossa forma de viver, pensar e se relacionar, também se faz sentir na linguagem. Por exemplo, você conhece o termo “Vossa merecendência”? Sabe o que ele significa? Você o usa muito na comunicação, mas com uma escrita diferente. Ao longo do tempo, “Vossa merecendência” modificou-se, ganhou outras grafias e hoje corresponde ao pronome “você”, o qual, na língua falada comumente tem sido pronunciado como “cê”.
Sendo assim, trataremos aqui não só sobre essas e outras variações, mas também sobre níveis de manifestação e sobre aspectos que as ocasionam. Ademais, propomos ainda reflexões acerca de como podemos acolher e entender – sem discriminação – todas as variedades constitutivas de uma língua.
Infelizmente, com considerável frequência, o professor em sala de aula precisa lidar com situações de intolerância, bullying, preconceito, discriminações. E, entre esses tipos de exclusões, pode se deparar com casos de preconceito linguístico. Por essa razão, apresentamos uma situação-problema a seguir para que você possa refletir e, desde já, pensar em estratégias eficientes para lidar com esse tipo de situação na prática profissional.
Imagine que você é professor do 7º ano do ensino fundamental em uma rede particular de ensino. Em sua turma só há alunos de mesmo nível socioeconômico, residentes na região em que a escola está localizada (nascidos ali). Então, no meio do semestre, chega à sua turma um aluno bolsista, pertencente a uma classe social de menor prestígio. Você percebe que esse aluno não foi bem acolhido pela turma, a qual o vê como diferente, talvez “inferior”, e o exclui, fazendo deboche sobre seu jeito de falar. O que fazer? Como agir para ajudar os alunos a desenvolver empatia e respeito pelo outro e, nesse caso, ajudá-los a entender que cada variedade linguística é um patrimônio da sociedade e da cultura e deve ser respeitada? Vamos pensar juntos!
O trabalho com as variações linguísticas, sem dúvida, é desafiador. Portanto, vá “em frente e enfrente” as adversidades que possam surgir pelo caminho! Reflita, estude, pesquise, desafie-se e não desista jamais!
conceito-chave
FATORES RESPONSÁVEIS PELAS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS
Para começar nosso estudo, é importante destacar: a língua não é algo pronto, homogêneo, acabado, e seus usuários não a utilizam de modo igual – eis aí a exuberância da diversidade linguística: as variações – intrínsecas a qualquer idioma. E é justamente essa a concepção a ser estabelecida acerca das variedades existentes em nossa língua, isto é, a concepção de que essa pluralidade e riqueza de formas, dialetos, estilos, sotaques é sinônimo de riqueza e beleza de uma língua; não pode, pois, ser vista como um problema, como uma deturpação do idioma, conforme muitos miticamente a enxergam.
FATORES EXTRALINGUÍSTICOS (SOCIAIS)
Nosso país não é monolíngue – em diferentes cidades, em diferentes regiões, as pessoas falam de modo diferente. No quadro, a seguir, vamos compreender melhor esse fator geográfico e descobrir outros importantes fatores extralinguísticos que motivam as variações linguísticas.
Quadro 1.8 | Fatores extralinguísticos (sociais) que explicam a variação da língua
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Regionalismo |
Facilmente identificamos a fala de um morador da região Nordeste ou do Sul, por exemplo. Isso ocorre porque cada dimensão geográfica apresenta suas próprias especificidades – seja na pronúncia, seja no vocabulário (ou em ambas) – em função de fatos e elementos históricos, culturais, sociais particulares de cada região. |
| Mercado de trabalho |
O lugar onde trabalhamos e a nossa posição hierárquica também podem influenciar nosso modo de falar. Algumas profissões, inclusive, como a de advogado, fazem uso de um vocabulário bem específico. |
| Nível de renda |
Os indicadores econômicos relativos a cada falante – no que concerne a rendas e remunerações – conferem pertencimento a esta ou aquela camada social, de maior ou menor prestígio; e cada camada social, por sua vez, tem formas variadas de usar a língua. |
| Grau de escolaridade |
Indivíduos que frequentam ou frequentaram a escola por muito tempo tendem a internalizar mais a variedade privilegiada pelo ensino escolar, ou seja, a linguagem de maior prestígio social, presente em textos literários clássicos, didáticos etc. |
| Idade |
Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos manifestam também diferenças no modo de falar, seja nas escolhas vocabulares, seja na pronúncia, na forma de organizar as frases etc. |
| Gênero |
A forma como homens e mulheres se comunicam também pode ser diferente. Como existe na sociedade tradicional certa concepção de comportamentos, estereótipos desse ou daquele gênero, isso também se reflete no uso da língua. |
| Contexto social e papéis sociais |
Situações comunicativas distintas demandam diferentes formas de expressão, podendo ser ora mais, ora menos formais. Isso significa que os falantes adéquam sua linguagem aos ambientes que exigem maior ou menor grau de formalidade. Dessa forma, por exemplo, um médico, no exercício de sua profissão, monitora sua linguagem; faz uso de estruturas mais formais, especializadas; já em casa, entre falantes com quem tem maior intimidade, pode fazer uso de uma linguagem mais informal. |
| Modalidades: escrita e falada |
Quando escreve, a pessoa tem mais tempo para planejar, elaborar, monitorar e revisar a linguagem empregada no texto; ao falar, o usuário da língua atua com improvisos e maior espontaneidade, logo, com menor atenção quanto às regras da norma-padrão. |
| Redes sociais (não necessariamente as digitais) |
Nesse caso, leia-se a rede de relacionamentos: amigos, família, colegas de trabalho e demais pessoas com quem o indivíduo se relaciona. Tudo isso também influencia o modo de falar. |
Como se pode observar, alguns fatores, como mercado de trabalho, nível de renda, grau de escolaridade, muitas vezes se correlacionam, pois se voltam, não raramente, à condição socioeconômica do falante. E, conforme será abordado mais adiante nesta seção, a linguagem empregada por indivíduos destituídos de prestígio social com frequência costuma ser motivo de preconceito linguístico, posto que, muitas vezes, diferencia-se em maior ou menor escala daquela empregada por falantes mais privilegiados econômica e intelectualmente.
Interessante saber!
Você imagina qual(is) seja(m) o(s) fator(es), entre os listados, mais determinante(s) para haver diversidade linguística em nosso país? Segundo inúmeras pesquisas realizadas, são dois: o nível de renda aliado ao de escolarização formal (grau de escolaridade) – esses são os que mais influenciam, de acordo com pesquisadores, para haver maneiras diferentes de se usar uma língua.
FATORES LINGUÍSTICOS
Além dos fatores extralinguísticos concernentes à variação, existem ainda os fatores linguísticos, ou seja, aqueles mais voltados a estruturas da língua em si.
Imagine como se pronunciam essas duas expressões: “as duas alunas” e “as três alunas”. Você notou que o som de “as”, em uma e em outra, é distinto? Em “as duas”, pronunciamos com som de /z/ e, em “as três”, o som é de /s/. Isso ocorre porque, no primeiro caso, o “s” foi empregado antes de “d”, uma consoante considerada sonora (som pronunciado com as cordas vocais) e toda letra pronunciada antes desse tipo de consoante se sonoriza. Já no segundo caso, há o encontro de dois sons considerados surdos “s” e “t”. Com isso, não há sonorização. Esse, por exemplo, é um fator considerado puramente linguístico de variação.
DICA!
Para entender melhor os fatores linguísticos de variação, é importante conhecer um pouco mais dos aspectos fonéticos e fonológicos que fazem parte do inventário do Português Brasileiro. Para tanto, acesse os itens disponíveis nas indicações que seguem. Boa leitura!
Para uma noção introdutória, sugerimos:
- INTRODUÇÃO à Fonologia | Aula 1. YouTube, 16 out. 2015. (23 min 42 seg). Publicado pelo canal Português com Charme [Prof. Thiago Charme].
- CONSOANTES | Aula 4. YouTube, 22 dez. 2015. (14 min 35 seg). Publicado pelo canal Português com Charme [Prof. Thiago Charme].
E o texto, que trata da linguagem de sinais, mas também dá claras explicações acerca de variação, fonética e fonologia:
- KARNOPP, L. Fonética e Fonologia. Apostila do Curso de Libras, Bacharelado e Licenciatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Educação a Distância. [S.l., s.d.].
Para aqueles que se interessam pelo tema em alfabetização, este breve texto também pode ser enriquecedor.
- • BISOL, L. Fonética e fonologia na alfabetização. Letras de Hoje, v. 9, n. 2, p. 32-39, 1974.
Além de fatores, a diversidade da língua enuncia-se também em diferentes níveis.
NÍVEIS DE VARIAÇÃO NO PORTUGUÊS FALADO

Tendo já compreendido o caráter instável, mutante e heterogêneo das línguas e conhecido os fatores responsáveis pelas variações, é mais fácil entender os níveis em que tal diversidade manifesta-se. Além disso, de posse desse saber, no futuro você poderá usufruir, com êxito, de tal conhecimento em sua atuação profissional, ajudando a consolidar um modelo de educação linguística mais democrático, contemporâneo e que se oriente pelas transformações da sociedade.
Reflita
Leia com atenção uma declaração do professor Carlos Alberto Faraco, ao encerrar uma videoconferência, tratando de variação linguística:
A tradição normativa e escolar opera com rigidez e se sustenta numa cultura do erro. O horizonte que estamos a desbravar é o da flexibilidade e da cultura da adequação. É uma utopia. É um sonho. Talvez uma quimera… Não sei. O importante é continuarmos sonhando e trabalhando para desatar esses nós. (CARLOS, [s.d.])
O que você acha? É um sonho para o educador conseguir, em sala de aula, fazer seus alunos conhecerem, entenderem e respeitarem a diversidade linguística de nosso país? Pense sobre isso!
A seguir, vamos resumir e exemplificar os níveis de variação: léxico, fonológico, morfológico, sintático e discursivo.
Quadro 1.9 | Níveis de variação
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Nível léxico | Em geral, as variantes lexicais estão diretamente relacionadas ao fator regionalismo, ou seja, a região geográfica em que o falante vive exerce forte influência sob seu modo de se expressar. Por exemplo, o termo “mandioca” em algumas regiões é conhecido por “aipim” ou “macaxeira”. Isso também ocorre com “apressado/avexado”; “menino/piá/guri” etc. Essa variação também pode ocorrer entre falantes de uma mesma região. Por exemplo, em um mesmo território geográfico, alguns falantes podem usar o termo “patente” e outros “privada” para o nome “vaso sanitário”. |
| Nível fonológico |
A fonologia estuda os sons da linguagem humana, logo as variações de nível fonológico são aquelas que se expressam nos sons da fala, por exemplo: a troca de “lh” por “i”, como em (telha); transformação de proparoxítonas em paroxítonas: como em “arve” (árvore); redução do ditongo, como em “baxo” (baixo); troca de “o” por “u” e “e” por “i”: “brutu” (bruto); “denti” (dente); acréscimo de vogal, como em “peneu” (pneu); troca da consoante “l” por “r”: “prantar” (plantar). |
| Nível morfológico |
Este nível, referente à morfologia, ou seja, ao estudo da estrutura interna das palavras, suas formações e classes, diz respeito a mudanças nas formas dos termos. Exemplos: redução de “ndo” para “no”: “mandano” (mandando), “dançano” (dançando); perdas de desinências verbais: “comê” (comer). |
| Nível sintático |
Tal nível relaciona-se à sintaxe, isto é, à parte da gramática que estuda a função dos termos da oração, como concordam, como são regidos etc. Sendo assim, alterações nesse nível correspondem a mudanças na organização dos termos na sentença. Por exemplo, o não uso de preposições “As informações que preciso” (As informações de que preciso); ausência de concordância, como na gíria: “As mina” (As minas). |
| Nível discursivo |
O discurso aqui deve ser entendido como um contexto de comunicação – oral ou escrita – entre dois interlocutores. Variações que se dão no nível discursivo referem-se ao uso de conectivos, termos que conectam porções textuais, tais como: “daí”, “aí”, “então” e expressões como “ô meu”, “bah!”, “né”, “pô” etc. |
Vamos agora conhecer os tipos de variação, os quais apresentam características específicas de alguns desses níveis listados.
TIPOS DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
Para abrir nosso estudo sobre esse assunto, leia um trecho da crônica “Antigamente”, de Carlos Drummond de Andrade:
ANTIGAMENTE, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. […] MAS TUDO ISSO era antigamente, isto é, outrora. (DRUMMOND, [s.d.])
Você utiliza expressões como “janotas” (alguém elegante)? Ou fazer “pé-de-alferes” (ato de namorar, cortejar)? Nesse texto, o autor propositalmente empregou termos e expressões que sofreram mudanças e/ou caíram em desuso com o passar dos tempos. As variantes da língua que passaram por esse processo enquadram-se no tipo de variação denominado variação histórica.
VARIAÇÃO HISTÓRICA OU VARIAÇÃO DIACRÔNICA
Passam por esse tipo de variação termos que caíram em desuso, como os extraídos do texto de Drummond e aqueles que sofreram mudança em sua grafia ou em seu conteúdo. Vejamos uma pequena amostra dessas ocorrências:
Quadro 1.10 | Exemplos de variação histórica
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Embora | Hoje já não tem o sentido de "em boa hora", mas foi dessa expressão que tal termo surgiu, mediante o processo de aglutinação; corresponde, atualmente, a um advérbio com sentido de ir-se a algum lugar. Também funciona hoje como conjunção concessiva, equivalente a “apesar de”. |
| Farmácia | Anteriormente, tal substantivo tinha a seguinte grafia: “pharmacia”. Com o Acordo Ortográfico de 1911, ela passou pela troca do “ph” por “f” e ganhou o acento. |
| Por | O verbo “por”, antigamente, era escrito como “poer” (poner < ponere) – fato que justifica seu pertencimento à segunda conjugação “er”. Alguns estudiosos, como Roberto G. Camacho, denominam essas formas antigas como “arcaísmos”. |
| Crônica | Acredita-se que o termo “crônica” se origina de “khrónos”, que, em grego, significa tempo. Seu sentido também mudou: antigamente, tal vocábulo era usado para se referir a registros de acontecimentos históricos, verídicos, em uma sequência cronológica; hoje corresponde, em geral, a um texto que trata de temas cotidianos e pode conter humor, reflexão, argumentação etc. |
| Sabor | A palavra “sabor”, hoje com ideia de “paladar”, “gosto”, também já significou “prazer”, como nessa passagem do português medieval: “Tan gran sabor houv’eu de lhe dizer […]” (CAMACHO, 1988). |
| Formidável | Este adjetivo também sofreu variação em seu sentido com o tempo. Hoje, diz respeito àquilo que suscita admiração, belo, bom; anteriormente, significava praticamente o oposto: “terrível”, algo que inspirava medo. |
Camacho (1988, p. 30) afirma que tal variação histórica também pode ser chamada de variação diacrônica e destaca:
É preciso lembrar que o processo de mudança linguística não é tão simples como pode parecer. Em sua origem, uma variante em processo de adoção pela norma da comunidade é apenas uma das inumeráveis variantes confinadas ao uso de um grupo restrito de falantes. Ao se propagar, é adotada por um grupo socioeconomicamente expressivo, que reconhece nela um fator de prestígio em contraste com a forma em desuso. Finalmente, elege-se como variante normal na fala da comunidade, com a eliminação completa da forma em substituição, que acaba por fixar-se em virtude da modalidade escrita.
Portanto, vê-se que leva um tempo e há todo um processo para que uma mudança se firme em nosso idioma. Mas, ainda assim, como a língua é dinâmica e mutável, são muitos os exemplos desse tipo de variação.
Vamos agora tratar um pouco mais das variações regionais ou geográficas.
VARIAÇÃO REGIONAL OU GEOGRÁFICA
Conforme já explicitado anteriormente, ao se tratar do fator regionalismo e do nível lexical em uma localidade como o Brasil, por exemplo – uma nação de grande extensão –, é natural haver, mesmo em falantes de uma mesma língua, variações de pronúncia, sons, construções e uso do vocabulário. Dessa forma, podemos citar alguns termos e usos que comprovam essa diversidade linguística por região espacial. Por exemplo: a pronúncia com abertura sistemática da vogal pretônica – toda a região nordestina apresenta tal pronúncia, em geral mais fechada em outras regiões, como em “mEnino”; “fOgão”. Há também o caso da realização de “e” e “o” átonos finais – em determinadas áreas da região Sul do país – pronunciados com grau médio de abertura. Por exemplo: “leitE”. Já em outras regiões, tal abertura ocorre em forma reduzida, como em São Paulo (“leiti”). Há também os casos da não palatalização das sílabas “ti” e “di”, comuns no interior de São Paulo, ou ainda o chamado “r” retroflexo (ou o “r – caipira”), que também é frequentemente ouvido no interior de São Paulo ou interior do Paraná, por exemplo.
Além desses casos de pronúncias distintas, há também, como já exposto, as diferenças de vocabulário, isto é, um mesmo elemento recebe denominações diferentes a depender da região. Como mais dois exemplos desses casos de variante lexical, observe as imagens a seguir:
(A)
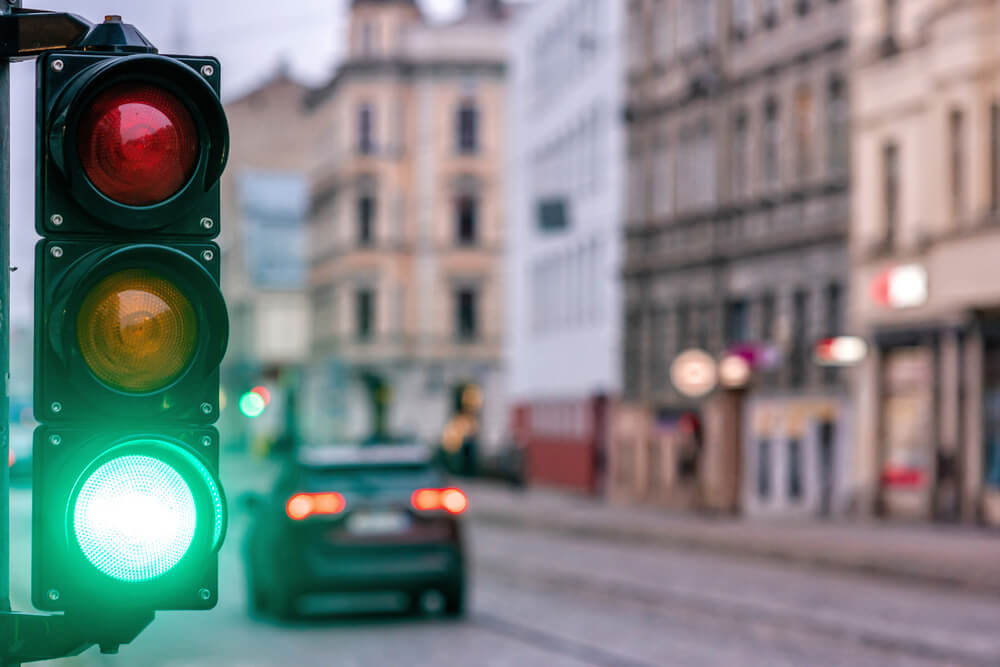
(B)

Como você se refere a esse instrumento regulador do trânsito? “Semáforo”, “farol”, “sinaleira”, “sinal”? Em todo o Brasil, em regiões diversas, há essas formas distintas para referenciar tal instrumento. E que nome você usa para se referir ao objeto (B)? Dependendo da região em que mora, pode ser “pipa”, “papagaio”, “pandorga”, entre outros. E viva a riqueza e diversidade de nossa língua!
DICA!
Há muitos outros termos que variam de nome, dependendo da região do Brasil. Há também muitas outras curiosidades e saberes relevantes para se estudar sobre o assunto. Sendo assim, seguem mais algumas sugestões de leitura.
- PARÁBOLA EDITORIAL. Variação Linguística – o que é, exemplos, dicas de leitura. Blog da Parábola Editorial, 1 jan. 2019.
- PIRES DE OLIVEIRA, A. M. P. Brasileirismos e regionalismos. Alfa Revista de Linguística, v. 42, 1988.
- SOUSA, J. L.; LIMA, L. N. M. Regionalismo e variação linguística: uma reflexão sobre a linguagem caipira nos causos de Geraldinho. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 72, jan./abr. 2019.
Conforme já afirmado aqui, diferentes faixas etárias, os gêneros, as variadas regiões geográficas, as hierarquias socioeconômicas e seus efeitos sobre o acesso à educação e aos bens culturais, além das atividades em que o falante está envolvido a cada momento, condicionam as variações em nossa língua.
VARIAÇÃO SOCIAL
Em se tratando de variação social, retomaremos vários fatores extralinguísticos já apresentados e vamos enfatizar que é preciso fixar esta proposição: a língua varia conforme as características sociais de uma comunidade de fala.
Em outras palavras, a sociedade é formada por grupos sociais distintos: jovens, idosos, mulheres, homens, comunidade LGBTQIA+, etnias, classes sociais etc. Todos esses fatores condicionam o que se denomina variação social.
Segundo Camacho (1988), a variação social é o resultado da tendência para maior semelhança entre atos verbais dos membros de um mesmo setor sociocultural da comunidade. Por exemplo, os jovens – que, como é próprio da idade, buscam formas de se diferenciar dos mais velhos, “os ultrapassados” – comumente usam gírias e determinados termos que falantes de mais idade não usam ou mesmo desconhecem. Assim, construções como “Que massa, mano!”; “Se pá, topa um rolê hoje, gata?”, “As mina” etc. estão presentes no repertório de usos de falantes, em geral, mais jovens.
Exemplificando
Como educadores, é importante conhecer o contexto social de nossos alunos, para que, sempre que possível, consigamos trazer para a sala de aula a realidade deles. Dessa forma, todo o conteúdo desenvolvido torna-se mais significativo aos educandos. Pensando nisso, no que tange ao trabalho com jovens, é valido conhecer as gírias e demais expressões próprias de sua linguagem. Quem sabe até alguma atividade relacionada a isso possa ser desenvolvida no âmbito pedagógico. E, no que diz respeito a esse tema, é interessante observar como as gírias se atrelam também às variações históricas, além das sociais, uma vez que há aquelas expressões populares que “estão na moda”, isto é, são muito usadas por um tempo, mas que no entanto podem cair em desuso depois de determinado período. Atualmente, por exemplo, vê-se muito, sobretudo em mídias sociais, construções como “Nossa! Hoje tô um nojo de linda!” (uma versão mais moderna para: “Olha como estou maravilhosa hoje!); “Você é meu crush” (“crush” substituiu o antigo “paquera” – alguém por quem se está atraído); “Vamos shippar esses dois!” (Vamos torná-los um casal), entre outras. Qual será o “prazo de validade” de uso dessas e outras expressões atuais? Só o tempo poderá responder a essa pergunta. Mas o que é certo é que a língua está sempre em movimento, sempre em transformação, e nós, falantes, estamos sempre contribuindo com a condução/reconstrução da língua.
Em se tratando de gênero, é verificável que o emprego de formas afetivas como “gracinha”, por exemplo, é mais comum em falantes do sexo feminino. Além disso, há também questões de entonação. Por exemplo, mais mulheres do que homens têm a tendência de prolongar a duração das sílabas tônicas em adjetivos como “maravilhoso”, cuja pronúncia ficaria: “maravilhooooso”. A comunidade LGBTQIA+ faz uso de termos como: “bofe” (homem bonito), “mona” (mulher ou homossexual masculino afeminado), entre outros bem mais específicos do meio.
Algumas mudanças em nível fonológico podem ser observadas em todas as classes sociais – mais ou menos privilegiadas. Todavia, Camacho (1988) destaca que algumas delas são mais perceptíveis em indivíduos pertencentes a baixos extratos socioeconômicos. O autor se refere a mudanças do tipo:
- Redução de ditongo em palavras como “homem” – em vez de se pronunciar “em”, pronuncia-se: “ein”;
- Ausência da marca de plural em verbos como “vamos”, em que se pronuncia “vamo”, ou em substantivos como “os meninos”, em que se pronuncia “os mininu” (nesse caso, além de ausência de “s”, há a troca comum de “e” por “i” e de “o” por “u”).
Algo que precisa ficar claro é que fatores extralinguísticos – já apresentados anteriormente e que atuam na formação dos grupos sociais, isto é, formam essa variação social – muitas vezes não se constituem como os únicos itens determinantes para a formação de setores distintos de atividade verbal. Não raramente, tais fatores atuam conjugados entre si. Por exemplo, o nível socioeconômico de um indivíduo aliado a seu grau de instrução, ao acesso à cultura e à sua regionalidade pode caracterizar seu modo de falar.
VARIAÇÃO ESTILÍSTICA
Por fim, trataremos da variação estilística. Sabe a que ela se refere? Para entendê-la, retomaremos ao demonstrado sobre o fator “contexto social/papéis sociais”.
A adequação da linguagem ao contexto de fala ou de escrita é indispensável – é a isso, em suma, que se refere a variação estilística. Para nos comunicarmos, dispomos do estilo informal (mais imediato, cotidiano) e do formal (mais elaborado, com maior prestígio). Portanto, assim como para ir, por exemplo, a um casamento, usamos um traje de festa – e não um pijama; e, para ir à praia, usamos roupas de banho – e não terno e gravata, também adequamos nossa fala e escrita para cada contexto comunicativo.
Dessa maneira, usamos formas mais monitoradas ou menos monitoradas a depender da situação. É aí que entram os papéis sociais. Por exemplo, um diplomata, em seu trabalho, participando de uma conferência ou reunião, provavelmente tentará usar uma modalidade mais monitorada e formal de linguagem, sem o uso de gírias ou reduções do tipo “tô”, “cê”, “nóis vamo” e outras. Quando está em casa, com sua família, afrouxa o monitoramento e emprega uma variante mais informal, isto é, mais condizente com o contexto em questão, uma vez que não soaria bem tal falante dirigir-se à esposa, por exemplo, na mesa de jantar, em um momento cotidiano: “Ilustríssima senhora, poderia, por obséquio, passar-me o azeite?”. Com isso, verifica-se que cada atividade verbal demanda adequação ao momento do ato comunicativo. Ademais, fazemos escolhas conforme nossas finalidades e nosso público-alvo.
Camacho (1988) destaca que não se pode confundir estilo formal e estilo informal com noções de língua escrita e língua falada. Tanto em uma modalidade quanto em outra, o falante pode usar uma variante mais formal ou mais informal.
Por exemplo, um determinado palestrante, ao discursar para um público de profissionais de sua área de atuação, pode fazer uso, na fala, de uma variante mais formal, dotada de mais reflexão e até termos mais específicos. Com outro público, de falantes menos letrados, para se fazer compreensível, pode adotar uma modalidade mais coloquial, informal. Com relação à escrita ocorre o mesmo: para se escrever uma mensagem pelo celular, usamos linguagem informal; para documentos oficiais, contratos, declarações jurídicas, entre outros gêneros, procuramos empregar maior formalidade.
NORMA-PADRÃO, VARIEDADES DE PRESTÍGIO E PRECONCEITO LINGUÍSTICO
Você sabe o que é norma-padrão? E norma culta? Será que são termos sinônimos? Vamos aos esclarecimentos.
A norma-padrão, também conhecida atualmente como norma de referência, é aquela registrada nos dicionários e compêndios gramaticais, ou seja, corresponde a uma língua modelo.
A norma-padrão, conforme ressaltam Cereja e Cochar (2016), não existe como uma língua de fato, pois ninguém fala português em norma-padrão em todos os momentos da vida. Portanto, ela deve ser encarada apenas como uma referência que orienta os usuários da língua sempre que precisam usar o português de modo mais formal – seja na modalidade falada, seja na escrita.
Já a norma culta, também chamada de variedade urbana de prestígio, como o próprio nome diz, corresponde àquela resultante da atividade verbal de falantes considerados cultos, mais especificamente pessoas de nível superior completo, renda mais alta e moradoras de centros urbanos.
Sabemos que, em determinadas situações mais informais, a norma-padrão não é exigida. Mas, em outras, sobretudo no meio profissional, em entrevistas de emprego, em apresentações orais, na redação de documentos oficiais etc., tal variedade é requerida. E é por isso que deve ser ensinada na escola – local onde, muitas vezes, é o único em que as crianças têm contato com tal norma de referência da língua.
Foco na BNCC
Destacamos que o conteúdo desta seção consta entre os estudos previstos pela BNCC. Segue uma das habilidades referentes ao trabalho com variação linguística no ensino fundamental I (3º ano):
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. (BRASIL, 2019, p. 113)
Cereja e Cochar (2016) destacam que a norma culta e as demais variedades que mais se aproximam da norma-padrão são mais prestigiadas socialmente. Em contrapartida, as variedades utilizadas por falantes de localidades interioranas, rurais ou por pessoas de baixa renda e baixo grau de escolarização têm menor prestígio social e, por consequência, não raramente são vítimas de preconceito.
Como já afirmado aqui, nossa missão, como professores e/ou futuros educadores, é desafiadora, uma vez que precisamos auxiliar nossos alunos a desconstruírem mitos como os elencados pelo professor Marcos Bagno, de forma clara e cirúrgica, na obra Preconceito linguístico: o que é, como se faz. Que mitos são esses? Tais como: “A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente”; “As pessoas sem instrução falam tudo errado.”; “O certo é falar assim porque se escreve assim.”, entre outros. Segundo o autor,
O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada, no curso da história, entre língua e gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não é um bolo, o molde de um vestido não é um vestido, um mapa-múndi não é o mundo… Também a gramática não é a língua. (BAGNO, 2004, p. 9)
Segundo a Sociolinguística – área da linguística que estuda as relações entre a língua que falamos e a sociedade – não existem maneiras de falar corretas e maneiras de falar erradas. Você já ouviu alguém dizer que uma forma de falar é melhor que a outra? Ou seja, que a variedade de uma região ou de um determinado grupo de pessoas é melhor do que a variedade empregada em outra localidade? Pois bem, isso não é verdade. O importante é a comunicação ser eficiente entre os indivíduos, independentemente de se utilizar a norma-padrão ou não. O que também não significa que “vale tudo” na língua. O que se destaca é que é possível respeitar linguisticamente todos os falantes e promover o ensino da norma de referência. No entanto, segundo o professor Carlos Alberto Faraco ([s.d.]), para que isso ocorra, é preciso definirmos uma norma-padrão empiricamente sustentável e flexível, ou seja, uma padronização que não desmereça a complexidade e a exuberância da variação linguística.
Assim, é necessário e urgente buscarmos a construção – ainda que talvez distante e deveras até idealizada (mas não impossível) – de uma sociedade que se olhe no espelho, que compreenda sua história socioeconômica e sociocultural, que acolha a sua diversidade e que ofereça todas as oportunidades de inclusão econômica, social, cultural e linguística, visto que respeitar linguisticamente o outro é fator essencial para se aprender a respeitar o outro em todas as suas dimensões.
Apenas para ressaltar algo que procuramos frisar por todo o texto desta seção: é de fundamental importância que, inicialmente, nós mesmos, enquanto educadores, livremo-nos dos possíveis preconceitos que, por estarem enraizados em nosso meio social, muitas vezes consciente ou inconscientemente, perpassam nossas falas e atitudes. Nosso exercício reflexivo quanto a isso deve ser constante, pois é com o exemplo que tornamos nosso ato educativo pleno em significado.
Assimile
Como afirma o educador Paulo Freire (2003, p. 20) “A educação, qualquer que seja o nível em que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o desenvolvimento desta necessidade radical dos seres humanos, a de sua expressividade.”. Assim, com nosso exemplo, teremos mais chances de fazer nossos alunos compreenderem que cada variedade linguística expressa uma face da nossa história, da nossa cultura, da experiência de vida de cada segmento da nossa população; fazê-los entender que cada variedade, qualquer quer seja ela, pede respeito!
Esperamos que tenha sido significativo para você se enveredar pela pluralidade de nossa língua, conhecendo fatores, níveis, tipos distintos de variação linguística e refletindo sobre variedades de menor e maior prestígio. Ademais, combater o preconceito linguístico é combater a perpetuação de exclusões sociais.
referências
ANDRADE, C. D. Antigamente. Drummond: 100 anos, [s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/3eERtNg. Acesso em: 26 jun. 2020.
BAGNO, M. Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
BISOL, L. Fonética e fonologia na alfabetização. Letras de Hoje, v. 9, n. 2, p. 32-39, 1974. Disponível em: https://bit.ly/3eERnVU. Acesso em: 20 maio 2020.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3ja0vFA. Acesso em: 26 jun. 2020.
CAMACHO, R. G. A variação linguística. In: SÃO PAULO (Estado). Subsídios à proposta curricular para o ensino de língua portuguesa no 1º e 2º graus. São Paulo: SE-CENP, 1988. v. 3.
CARLOS Faraco. YouTube, [s.d.]. (1h, 9m e 14s). Publicado pelo canal Abralin. Disponível em: https://bit.ly/2Ovipo5. Acesso em: 25 maio 2020.
CEREJA, W. R.; COCHAR, T. M. Gramática: texto, reflexão e uso. 5. ed. São Paulo: Atual, 2016.
CONSOANTES | Aula 4. YouTube, 22 dez. 2015. (14 min 35 seg). Publicado pelo canal Português com Charme [Prof. Thiago Charme]. Disponível em: https://bit.ly/3j8ijkl. Acesso em: 20 maio 2020.
FREIRE, P. Os camponeses e seus textos de leitura. In: Ação Cultural para a Liberdade: e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
INTRODUÇÃO à Fonologia | Aula 1. YouTube, 16 out. 2015. (23 min 42 seg). Publicado pelo canal Português com Charme [Prof. Thiago Charme]. Disponível em: https://bit.ly/3eIpnRv. Acesso em: 20 maio 2020.
KARNOPP, L. Fonética e Fonologia. Apostila do Curso de Libras, Bacharelado e Licenciatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Educação a Distância. [S.l., s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/2CGJkKW. Acesso em: 20 maio 2020.
MURAD, C. R. R. O.; SILVA, Â. M. Variação linguística e ensino de língua portuguesa: o professor da educação infantil como promotor do diálogo entre ciência e sala de aula. Revista Anais do SIELP, Uberlândia, v. 2, n. 1. EDUFU, 2012. Disponível em: https://bit.ly/3eBnR3x. Acesso em: 26 jun. 2020.
NOVA ESCOLA. Entenda como a BNCC aborda a Língua Portuguesa no Fundamental. Associação Nova Escola, 8 ago. 2019. Disponível em: https://bit.ly/3eA3Wli. Acesso em: 25 maio 2020.
OS VIGARISTAS. Piadas de Mineiro. Os Vigaristas, [s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/32pNNwz. Acesso em: 26 jun. 2020.
PARÁBOLA EDITORIAL. Variação Linguística – o que é, exemplos, dicas de leitura. Blog da Parábola Editorial, 1 jan. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2ZEGa3D. Acesso em: 20 maio 2020.
PIRES DE OLIVEIRA, A. M. P. Brasileirismos e regionalismos. Alfa Revista de Linguística, v. 42, 1988. Disponível em: https://bit.ly/2Cm4i1M. Acesso em: 25 maio 2020.
SOUSA, J. L.; LIMA, L. N. M. Regionalismo e variação linguística: uma reflexão sobre a linguagem caipira nos causos de Geraldinho. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 72, jan./abr. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2CikwJp. Acesso em: 25 maio 2020.



