Concordância verbal e concordância nominal
Aprenda casos especiais de concordâncias.
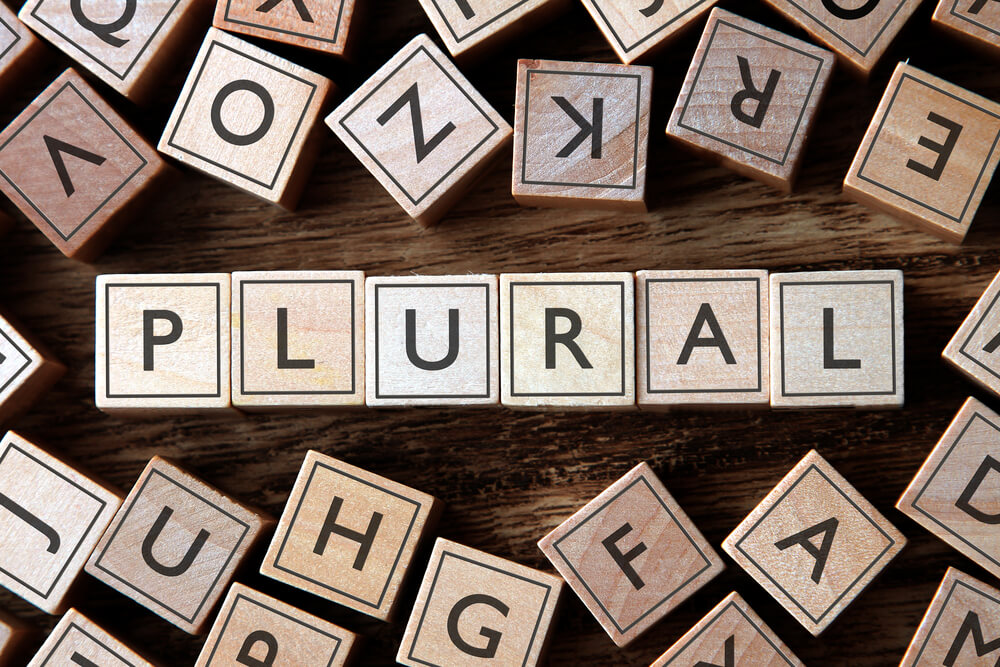
Fonte: Shutterstock.
Deseja ouvir este material?
Áudio disponível no material digital.
Praticar para aprender
Provavelmente, você já deve ter se perguntado:
- Faz ou fazem anos que moro aqui?
- Será que é meio-dia e meio ou meio-dia e meia?
- Ir ao cinema ou ir no cinema?
Nesta seção, apresentaremos alguns aspectos sintáticos os quais merecem estudo e dedicação não só por serem – não raro – motivo de dúvidas entre os falantes em geral, mas também porque correspondem a importantes constituintes de sua futura carreira profissional, enquanto educador que atuará de modo direto com nossa língua materna, independentemente da área que escolha lecionar.
Será que você também é daqueles que já teve tanta dificuldade em saber se há ou não acento indicativo de crase que chegou mesmo a desejar: “bem que poderia ter caído com aquela Reforma Ortográfica de 2009...”. Pois bem: além de crase, abordaremos nesta seção o uso das vírgulas e demais sinais de pontuação, concordância verbal e concordância nominal, regência verbal e regência nominal.
Primeiramente, trataremos dos sinais de pontuação, relembrando e/ou compreendendo seus empregos, com foco especial para o uso das vírgulas, o qual tem gerado maior número de dúvidas quanto a seu uso. A seguir, estudaremos noções gerais acerca da concordância verbal e da concordância nominal, com destaque para casos como o do verbo acompanhado de “se” (“vende-se ou vendem-se casas?”) ou do termo “meio” – expressões-alvo de inúmeras dúvidas. Também nos dedicaremos nesta seção ao estudo da regência verbal e da regência nominal, compreendendo a relação de verbos e de nomes que necessitam de complemento, com ou sem preposição. Por fim, trataremos do uso do acento indicativo de crase, uma extensão do conteúdo estudado sobre regência.
Sigamos com mais um exemplo de situação-problema, com a qual você pode vir a defrontar-se em sua prática educacional. Imagine que você é professor das séries finais do ensino fundamental II e seus alunos têm apresentado dificuldades quanto ao emprego das vírgulas. Alguns as utilizam de modo excessivo, separando com vírgula, inclusive, sujeito de verbo; outros nunca as utilizam e, para piorar, constroem períodos demasiadamente longos, o que acaba por “empobrecer” as produções textuais.
Você já os orientou; já propôs monitorias em contraturno; já ofertou atividades sobre, porém o problema de uso persiste. Que estratégias didático-pedagógicas podem ser utilizadas para ajudar seus alunos na melhor utilização das vírgulas ao construírem seus textos? Mais uma vez, tendo em vista todas as informações estudadas sobre o uso adequado das vírgulas em gêneros diversos e também considerando seu conhecimento prévio voltado à didática em sala, construído até então, além de sua experiência como aluno-usuário da Língua Portuguesa, pesquise e pense a respeito para superar mais esse desafio que pode vir a surgir em seu caminho didático-pedagógico.
Bons estudos!
conceito-chave
SINAIS DE PONTUAÇÃO: FUNÇÕES E EFEITOS DE SENTIDO
Em nossa comunicação oral, contamos com expressão fácil, entonação, olhar e gestos para expressarmos o que intuímos, desejamos. Na linguagem escrita, são os sinais de pontuação que ajudam a nos fazermos entender pelo outro, nosso interlocutor. Por meio deles, expressamos perguntas, afirmações, ordens, sentimentos, sensações; chamamos, listamos, entre muitas outras ações. Certamente você já tem domínio proficiente do uso de muitos desses recursos gráficos. Todavia, como pontuação também é considerado um assunto essencial na formação docente, vamos relembrar e/ou aprender, de fato, sobre tais empregos, sobretudo aprofundando-nos nos usos da vírgula.
PONTO-FINAL
Talvez o uso mais recorrente e descomplicado. É usado no fim de sentenças declarativas.
- É preciso ensinar e aprender a como se movimentar dentro do silêncio e do tempo.
PONTO DE INTERROGAÇÃO
É empregado no fim de frases interrogativas diretas. Por meio do ponto de interrogação, poderíamos transformar a frase declarativa em uma pergunta:
- É preciso ensinar e aprender a como se movimentar dentro do silêncio e do tempo?
Além desse exemplo, acrescentamos um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade (2011, [s.p.]), repleto de ponto de interrogação:
- “Verbo ser
Que vai ser quando crescer?
Vivem perguntando em redor. Que é ser?
É ter um corpo, um jeito, um nome?
Tenho os três. E sou?
[...]”
PONTO DE EXCLAMAÇÃO
Assim como o ponto de interrogação, o próprio nome já orienta seu uso: em frases exclamativas, para expressar o espanto, admiração, lamentos, alegria e outras emoções, além de ordem.
- “Ode ao burguês
Eu insulto o burguês! O burguês-níquel,
O burguês-burguês!
A digestão bem feita de São Paulo!
[...]”
DOIS-PONTOS
Utilizado para anunciar a fala de um personagem, para fazer uma citação, um esclarecimento ou uma explicação. Veja o exemplo:
- “Três paixões, simples mas irresistivelmente fortes, governam minha vida: o desejo imenso de amar, a procura do conhecimento e a insuportável compaixão pelo sofrimento da humanidade.” (RUSSEL, 1967, p. 13)
TRAVESSÃO
É usado no discurso direto, para introduzir a fala de uma personagem. Também tem sido usado em explicações, com a mesma função de vírgulas ou parênteses. Acompanhe um trecho de “O menino no espelho”, de Fernando Sabino (1982, [s.p.]):
- “[...] O homem disse que tinha de ir embora – antes queria me ensinar uma coisa muito importante:
— Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto da sua vida?
— Quero – respondi.
O segredo se resumia em três palavras, que ele pronunciou com intensidade, mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos:
— Pense nos outros. [...]”
Discurso direto
Quando as personagens que participam da história falam com suas próprias palavras, ou seja, a interação entre os personagens é tratada do modo mais fiel à realidade, à verossimilhança.
ASPAS
Usadas no início e no final de estrangeirismos, ironias, gírias, falas de personagens ou citações, como o exemplo:
- Ela perguntou: “Quantos anos você tem?”.
PONTO-E-VÍRGULA
É usado para separar orações coordenadas sindéticas com verbos com conjunção posposta ao verbo ou para separar itens em uma listagem relativamente extensa.
- Paula quer ir à festa; sua mãe, porém, não a autorizou.
- Os conteúdos da próxima prova são os seguintes: acentuação; pontuação; orações coordenadas; orações subordinadas; regência verbal.
RETICÊNCIAS
Podem indicar interrupção na fala ou para reforçar alguma ideia de ironia, mistério, implícitos, dúvida, ameaça, silêncio.
- Seu olhar reluz...
O USO DAS VÍRGULAS
Segundo Cereja e Cochar (2016), a pontuação marca, na escrita, a coesão entre palavras e partes do texto, torna mais preciso seu sentido e aponta as diferenças de entonação. No caso das vírgulas, aprendemos desde sempre que elas indicam pausas, o que não está errado, contudo nem todo mundo sabe que o emprego delas está, na verdade, intimamente relacionado com a sintaxe de nossa língua.
Você se recorda das funções sintáticas de aposto, vocativo, adjunto adverbial? Para compreender bem os usos das vírgulas e nunca mais pontuar de modo inapropriado um texto, é importante relembrar tais funções sintáticas. Se necessário, retome conceitos já tratados nesta disciplina.
Vamos ao Quadro 2.30, expositivo do uso das vírgulas:
Quadro 2.30 | Usos da vírgula
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Empregos |
Exemplos |
|---|---|
| Separar elementos de mesma função sintática. | Desejo a você saúde, felicidade, sucesso, amigos e amor. No exemplo, a vírgula separa núcleos do objeto direto do verbo “desejar”, não ligados por conjunção. |
| Para isolar o aposto. | Brasília, capital do país, está localizada na Região Centro-Oeste. Esse aposto explicativo traz uma explicação a mais sobre “Brasília”. |
| Para isolar o vocativo. | Mãe, você viu onde deixei meu tênis? A vírgula isola o termo usado para chamar, dirigir-se a alguém. |
| Para isolar adjunto adverbial extenso no início ou no meio de frase (a fim de destacá-lo). | No próximo dia 10, sairá o resultado do concurso. A vírgula isola o adjunto adverbial de tempo, destacado no início do período. |
| Para separar as orações com função de advérbio – orações subordinadas adverbais – quando antepostas às orações principais. | Sempre que quiser um abraço, eu vou lhe dar. Isola oração subordinada adverbial temporal, anteposta à oração principal “eu vou lhe dar”. |
| Para isolar expressões explicativas, como “isto é”, “ou seja”. | O amor tem de ser recíproco, isto é, o outro também deve amar. A expressão “isto é” é isolada por vírgulas ao explicar o que significa, com outras palavras, o que havia sido dito antes. |
| Para isolar nomes de lugares nas datas. | São Paulo, 20 de julho de 2020. |
| Para separar orações coordenadas. | Seja gentil e humilde, pois até o sol, com toda sua potência e grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. A oração destacada corresponde a uma oração coordenada sindética explicativa, separada da oração principal e da oração seguinte, com vírgulas (“com toda sua potência e grandeza” corresponde a uma locução adverbial dentro da oração coordenada). |
| Para isolar oração subordinada adjetiva explicativa (que tem função de aposto). | O homem, que é um ser social, necessita viver e interagir em grupos. Oração adjetiva explicativa referindo-se a todos os homens – sentido de humanidade. |
Assimile
Essa pequena anedota apresenta um bom exemplo da diferença que faz uma vírgula:
A professora pediu para que os alunos escrevessem uma redação para o Dia das Mães. No final, deveriam colocar a frase: "Mãe, só tem uma!". Todos os alunos fizeram a redação. Uns elogiavam as mães, outros contavam alguma história, mas todos colocaram no final a frase "Mãe, só tem uma!". Faltou o Joãozinho. Aí a professora pediu para ele ler seu trabalho. Então o Joãozinho levantou-se e começou a ler: – Tinha uma festa lá em casa e a minha mãe pediu para eu buscar duas garrafas de refrigerante na geladeira. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira e falei: "Mãe, só tem uma!" (CLUBINHO XALINGO, [s.d., s.p.]
Observe as construções:
“Mãe só tem uma.”
“Mãe, só tem uma.”
Notou que a mudança de função sintática de “mãe” na primeira e na segunda frase? No primeiro caso, o substantivo “mãe” funciona como sujeito do verbo “ter”, que, nesse caso, apresenta um uso coloquial, com sentido de “haver/existir”. Na segunda construção, com vírgula, o termo “mãe” funciona sintaticamente como vocativo, sendo, portanto, isolado por vírgula.
Conseguiu compreender a importância da pontuação para a produção de sentidos?
Reflita
Considerando o que estudamos sobre os sinais de pontuação, reflita sobre a seguinte questão: se não existissem tais sinais, como faríamos, na modalidade escrita da linguagem, para expressar emoções, questionamentos, declarações, chamados, explicações e outras situações? Pense a respeito!
ELEMENTOS-BASE DE CONCORDÂNCIA VERBAL E DE CONCORDÂNCIA NOMINAL
Como concordam os elementos da oração? Em regra geral, em se tratando de verbos, sua concordância em pessoa e em número – singular/plural – faz-se, na maioria dos casos, de acordo com o sujeito da oração. Dessa forma, quando o sujeito está no plural, o verbo estará no plural também; com sujeito no singular, verbo no singular também.
De modo semelhante ocorre também a concordância dos nomes: os determinantes (artigos, pronomes, numerais e outros) e os adjetivos concordam – em número e em gênero (feminino/masculino), geralmente, com o núcleo nominal a que se referem em uma oração.
No texto desta seção foi usada a construção “Como concordam os elementos?” e não “Como concorda os elementos?”, ou seja, o verbo “concordar” flexiona-se na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito “elementos”. Também foi usado, por exemplo, “núcleo nominal” e não “núcleo nominais”, isto é, o adjetivo “nominal” foi utilizado no singular para concordar com “núcleo”.
CONCORDÂNCIA NOMINAL
Mas há determinadas regras, no que tange à concordância da linguagem dentro da norma-padrão, que “fogem” um pouco de tais situações básicas. Os casos principais e que geram mais dúvidas quanto ao uso em norma-padrão estão no Quadro 2.31.
Quadro 2.31 | Concordância nominal: casos especiais
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Casos |
Exemplos |
|---|---|
| Adjetivos pospostos a substantivos Com o adjetivo depois de dois substantivos, faremos a concordância dele com o substantivo mais próximo (singular) ou com os dois (ou seja, plural). |
A empresa oferece localização e atendimento perfeitos. A empresa oferece localização e atendimento perfeito. A empresa oferece atendimento e localização perfeita. |
| Adjetivos antepostos a substantivos Com o adjetivo antes de dois substantivos, faremos a concordância dele com o substantivo mais próximo (singular). |
A empresa oferece perfeita localização e atendimento. A empresa oferece perfeito atendimento e localização. |
| Adjetivos na função de predicativo Com o adjetivo funcionando como predicativo de um sujeito ou de um objeto, cujo núcleo é ocupado por mais de um substantivo, faremos a concordância no plural. |
Professor e aluno pareciam cansados. A população considerou injustas a decisão e a medida definidas pelo governo. |
| Os termos obrigado, anexo/inclusos, mesmo/próprio Concordam com o substantivo ou nome a que se referem; podem, assim, ser usados no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. O termo “anexo” também tem sido aceito, mesmo em situações formais, como locução adverbial de modo “em anexo”. Nesses casos, como advérbio, torna-se invariável. |
Caetano Veloso e Jorge Mautner, após uma apresentação, disseram ao público: obrigados. (O termo concorda com a pessoa que o usa.) Os documentos inclusos devem ser assinados. (Masculino e plural para concordar com “documentos”.) Elas mesmas redigiram a carta de demissão. (Feminino e plural para concordar com “elas”.) As próprias moradoras do prédio realizaram a pintura. (Feminino e plural para concordar com “moradoras”.) |
| O termo menos Sempre invariável – seja funcionando como advérbio, seja como pronome adjetivo. |
Hoje estou menos ocupada que ontem. (Função de advérbio, pois se refere ao adjetivo “ocupada”.) Hoje tenho menos roupas para lavar. (Função de pronome adjetivo, pois se refere ao substantivo “roupas”.) |
| Os termos bastante e meio São invariáveis (sempre masculino/singular) quando se referem a adjetivos (nesse caso, desempenham função de advérbio). Só podem variar (feminino/plural) quando se referem a substantivos (quando desempenham função de pronome adjetivo). Como pronome adjetivo, bastante varia apenas em número; já meio, em gênero e em número. |
Como conseguir bastantes seguidores no meu canal? (Função de pronome adjetivo, pois se refere ao substantivo “seguidores”, portanto, flexiona-se). Os trabalhadores andam bastante cansados. (Função de advérbio, pois se refere ao adjetivo “cansados”, portanto, invariável.) Encontrarei você ao meio-dia e meia. (Função de numeral/pronome adjetivo, pois se refere ao substantivo “horas”, portanto flexiona-se – ideia de “metade”. Vê-se, com isso, que o correto é “meio-dia e meia”, e não “meio-dia e meio”.) Estou meio assustada com o que fiquei sabendo hoje. (Função de advérbio, pois se refere ao adjetivo “assustada”, portanto invariável – ideia de “um pouco”.) |
| Expressões como é bom, é preciso, é necessário Quando usamos artigos após expressões como “é proibido”, “é necessário”, “é bom”, “é permitido”, podemos usar feminino. Sem artigos, só o masculino deve ser usado. |
É proibida a entrada de menores de 18 anos. É proibido entrada de menores de 18 anos. |
CONCORDÂNCIA VERBAL
Em se tratando de concordância verbal, como já afirmado, em geral o verbo – que atua como núcleo do predicado verbal – concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito a que se refere.
- “Idosos são grupo de risco, mas outras faixas etárias merecem atenção [...]” (RIOS, 2020, [s.p.]).
Veja que essa manchete apresenta o princípio básico da concordância verbal: o verbo “são” está no plural e na terceira pessoa para concordar com o sujeito “idosos”; “merecem”, de igual modo, também se flexiona no plural e na terceira pessoa para concordar com “faixas etárias”. Tal conteúdo oferece muitos outros casos a serem estudados.
Trataremos a seguir daqueles casos que consideramos mais especiais e que merecem maior atenção, pois geram dúvidas ao serem empregados em contextos diversos.
EXPRESSÕES PARTITIVAS
Pode ser usado o plural ou singular com expressões como “a maioria de”; “grande parte de”; “a maior parte de”.
- “Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação?” (ENEM 112, [s.d., s.p.]).
Nesse caso, poderia estar “têm”, pois o plural do verbo “ter” é marcado com acento circunflexo ou permanecer no singular, nesse caso, sem acento, como ocorre no texto em questão.
PORCENTAGENS
Acompanhado de substantivo, o verbo concorda com o substantivo; sem substantivo, o verbo concorda com a expressão numérica da porcentagem.
- “Oitenta por cento da população vive com água potável sem garantia” (OITENTA…, 2016, [s.p.]).
Como, nesse caso, a porcentagem está acompanhada do termo “população”, que é singular, o verbo “viver” permanece no singular; se estivesse apenas a expressão numérica, sem o trecho “da população”, o verbo deveria estar “vivem”, para concordar com “80%”.
Essa regra assemelha-se aos casos de “quantidade aproximada”, em que o verbo também deve concordar com o substantivo que acompanha a expressão. Exemplo: “Mais de um corredor abandonou a prova” – “abandonou” está concordando com “corredor”. Em casos de fração, concorda-se com o numerador. Exemplo: “3/4 do planeta agradecem” – “agradecer” estar concordando com “três”; se fosse, por exemplo, “um” em vez de “três”, o verbo estaria “agradece”.
SUBSTANTIVOS COM FORMAS PLURAIS
Em caso de nome próprio, o verbo ficará no singular ou no plural, a depender da presença ou não de artigo ou de outro determinante.
- “EUA batem recorde de 74 mil novos casos; mundo atinge 14 milhões de doentes” (GAYER, 2020, [s.p.]).
Nesse caso, pela norma-padrão, acredita-se que a concordância não foi feita de modo correto, pois, para o verbo “bater” ser usado no plural, o termo “EUA” deveria estar acompanhado do artigo “os”. Outra forma possível seria “EUA bate recorde […]” – sem artigo e com verbo no singular.
Em caso de termos como “férias”, vai depender da presença ou não de determinante. Exemplo: “Minhas férias são sempre maravilhosas” – nesse caso, “férias” está acompanhado de “minhas”, por isso o verbo fica no plural; se estivesse sozinho, sem determinante, o verbo estaria no singular em construções como: “Férias é um período importante de descanso”.
SUJEITO COMPOSTO POSPOSTO AO VERBO
Faremos a concordância dele com o substantivo mais próximo (singular) ou com todos os núcleos.
- “Falta consciência institucional e um longo aprendizado.” (ENEM…, [s.d., s.p.]) – concordando com o mais próximo.
- Faltam consciência institucional e um longo aprendizado. – concordando com os dois núcleos.
APOSTO RECAPITULATIVO (RESUMIDOR)
Verbo concorda com o pronome que faz o resumo dos itens anteriores.
- Amigos, família, trabalho… nada conseguiu animá-lo.
O verbo “conseguir” concordando com o pronome “nada”.
VERBOS HAVER E FAZER
O verbo “haver” indicando tempo ou existência é impessoal, logo não apresenta sujeito. Se não tem sujeito, o verbo fica em sua forma original, ou seja, singular. Mesma regra vale para o verbo “fazer” indicando tempo, isto é, sempre singular, porque não tem sujeito.
- Havia muitos torcedores no estádio.
- Deve haver muitos torcedores no estádio.
- Faz dois anos que não venho aqui.
- Deve fazer dois anos que não venho aqui.
É comum encontrarmos ocorrências como essa fazendo uso do verbo “haver” no plural, tendendo a concordar com “torcedores” ou “fazer” no plural concordando com “dois anos”. Porém, nesses casos, “torcedores” e “dois anos” não são sujeitos; são objetos diretos, complementos dos verbos – e os verbos não fazem concordância com objetos, apenas com o sujeito. Como não há sujeito em tais situações, os verbos ficam no singular. Mesma regra vale quando tais verbos “haver” e “fazer” são verbos principais da locução verbal, como nos exemplos com “deve”. Portanto, o correto é “deve” e não “devem”.
VERBO + SE
Há uma discussão entre os estudiosos atuais com relação a essa concordância: “Vende-se casas” ou “Vendem-se casas”? De qualquer modo, sabe-se que ainda vale, na norma-padrão, o entendimento que, nesse caso, há voz passiva sintética: “casas são vendidas”. Logo, “casas” é o sujeito passivo que recebe a ação de ser vendida; sendo sujeito, o verbo deve concordar com ele. Dessa forma, o correto é “Vendem-se casas”, no plural.
Assimile
Atenção com a concordância de verbos + se
Vimos que, no caso de “Vendem-se casas”, a concordância ocorre no plural porque se trata de voz passiva, em que “casas” é o sujeito. Se fosse um caso de voz ativa, o verbo permaneceria no singular, porque, nesse caso, o sujeito estaria indeterminado. Exemplo: “Precisa-se de vendedores.” – “vendedores” aqui não é sujeito, mas, sim, objeto indireto do verbo “precisar” – alguém precisa de vendedores, pratica a ação, voz ativa, mas não fica explícito quem. Com isso, se o sujeito está indeterminado, o verbo fica no singular.
Uma forma de auxiliar a determinar essa concordância é a verificação da predicação verbal:
- Verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos + se: temos voz passiva sintética; o verbo concordará com o sujeito (ou seja, pode ser conjugado no singular ou no plural); se será partícula apassivadora.
- Verbos transitivos indiretos ou verbos intransitivos ou verbos de ligação + se: temos voz ativa, o sujeito fica indeterminado; o verbo permanece sempre no singular; se será índice de indeterminação do sujeito.
Para relembrar!
Transitivos diretos necessitam de complemento sem preposição; transitivos indiretos necessitam de complemento com preposição; transitivos diretos e indiretos tem dois complementos – um sem e outro com preposição; intransitivos não necessitam de complemento; de ligação são verbos que indicam características e, em geral, têm seu sentido completado por um predicativo.
VERBO SER
Esse verbo tem uma concordância particular. Entre dois substantivos comuns – um no singular e outro no plural – o verbo tende a ficar no plural.
- A felicidade da mãe eram seus dois filhos.
Quando há nome próprio, o verbo concordará com o nome próprio:
- Neymar é as esperanças do time.
Entre um substantivo e um pronome, o verbo concordará com o substantivo.
- Tudo são flores.
Quando se trata de pronome pessoal, o verbo concordará com o pronome: “Eu sou as esperanças do time”.
Quando indica qualquer quantidade (quilos, tempo), o verbo ser é invariável (ou seja, sempre no singular).
- Cinco quilos é muito.
- Dez minutos no forno é pouco.
Indicando tempo, o verbo ser concorda com a expressão numérica mais próxima (se ela estiver no plural, o verbo fica no plural; se estiver no singular, o verbo fica no singular).
- São três horas.
- Hoje são 13 de agosto.
Em casos de datas, se usar o termo “dia”, a concordância pode ser no singular “Hoje é dia 13 de agosto”.
Atenção!
Cuidado com o preconceito!
Conforme já estudamos nesta disciplina, nossa comunicação realiza-se mediante inúmeras variedades, seja devido a classes sociais distintas, seja por regiões diferentes ou por contextos variados, oportunidades de escolarização e outros aspectos. Desse modo, como alertam Abaurre e Pontara (2006), não se deve condenar determinadas variações, tratando-as como “crimes” gramaticais.
[…] quando ouvimos falantes de uma variedade estigmatizada dizerem algo como As laranja tá madura, não devemos concluir que essas pessoas estão cometendo um erro gramatical. No sistema de concordância da variedade linguística que falam, a regra determina a flexão de número somente para o determinante do sintagma nominal (no caso, o artigo). Em termos do conteúdo informacional, uma fala como essa é equivalente à de um falante de outra variedade que diz As laranjas estão maduras. O importante, quando refletimos sobre formas diferentes das estabelecidas pela gramática normativa, é lembrar que elas devem ser consideradas em seus contextos de ocorrência. Em situações formais, espera-se o respeito à norma gramatical. (ABAURRE; PONTARA, 2006, p. 493)
REGÊNCIA NOMINAL E REGÊNCIA VERBAL: CASOS PRINCIPAIS
Abaurre e Pontara (2006) definem regência como a relação que se estabelece entre duas palavras, por meio da qual uma das palavras se subordina à outra, funcionando como seu complemento. Em caso de regência nominal, tal relação se realiza entre um nome (substantivo, adjetivo ou mesmo advérbios) e seus respectivos complementos nominais, sempre regidos por preposição. Em caso de regência verbal, a relação ocorre entre verbos e seus complementos – objetos diretos ou indiretos – isto é, com ou sem preposição.
Os nomes – sintagmas nominais – são os chamados de termos regentes; os complementos, termos regidos (regência nominal); os verbos são os regentes, e os complementos, os termos regidos (regência verbal).
Assimile
Para entender bem tanto a regência nominal quanto verbal, você precisa ter conhecimento do uso das classes das preposições. Elas se referem a uma das classes de palavras que usamos em nossa comunicação, como as já estudadas aqui: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, conjunção, verbo e advérbio. Essa classe, diferentemente de outras e assemelhando-se às conjunções, não tem função sintática; grosso modo, seu principal papel no texto é ligar palavras (não confunda com as conjunções – essas, como se viu, ligam orações, e não palavras).
Exemplos mais comuns de preposição são: a (ao), em (no, na) antes, após, até, com, contra, de (do, da), desde, para, por (pelo, pela), perante, sobre, sob, trás.
REGÊNCIA NOMINAL
Começaremos pela regência nominal. Analise as frases a seguir e tente descobrir qual é a regência adequada.
- “Cormier: ‘Johnson não está habituado ______ pressão de disputar o título mundial’" (RODRIGUES; BARONE; RUSSIO, 2015, [s.p.]).
- “7 livros que estimulam a capacidade _____ imaginar-se outro” (ROGÉRIO, 2020, [s.p.]).
- “O ator Leandro Hassum fala de sua admiração _______ Jerry Lewis” (MERTEN, 2015, [s.p.]).
- “Google está perto de tornar Android Wear compatível ________ iPhone, diz site” (JESUS, 2015, [s.p.]).
Você sabe quais preposições regem os adjetivos: “habituado”, “compatível”, e os substantivos “capacidade” e “admiração”?
Vamos conferir!
“Cormier: ‘Johnson não está habituado À pressão de disputar o título mundial’" (RODRIGUES; BARONE; RUSSIO, 2015, [s.p.]).
“7 livros que estimulam a capacidade DE/PARA imaginar-se outro” (ROGÉRIO, 2020, [s.p.]).
“O ator Leandro Hassum fala de sua admiração POR Jerry Lewis” (MERTEN, 2015, [s.p.]).
(Em outros contextos, o termo “admiração” também pode ser regido por “a”.)
“Google está perto de tornar Android Wear compatível COM iPhone, diz site” (JESUS, 2015, [s.p.]).
Assim como os nomes “habituado”, “capacidade”, “admiração” e “compatível”, muitos são regidos por complementos com preposição. A seguir, os Quadros 2.32 e 2.33 trazem alguns dos vários nomes e as respectivas preposições que os regem. Caso necessite, busque mais informações sobre esse conteúdo nas referências e nas indicações de leitura dispostas a seguir.
Quadro 2.32 | Regência nominal: substantivos
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Substantivos |
Preposições |
|---|---|
| Atentado | a, contra |
| Aversão | a, para, por |
| Conciliação | entre |
| Concordância | a, com, de, entre |
| Devoção | a, para, com, por |
| Dificuldade | com, de, em, para |
| Facilidade | de, em, para |
| Horror | a |
| Permissão | de, para |
| Respeito | a, com, para com, por |
Quadro 2.33 | Regência nominal: adjetivos
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Adjetivos |
Preposições |
|---|---|
| Absolvido | de, por |
| Acostumado | a, com |
| Ansioso | de, para |
| Apto | a, para |
| Bondoso | com, para, para com |
| Contemporâneo | a, de |
| Curioso | de, por |
| Equivalente | a |
| Gentil | com, de, para com |
| Interessado | com, em, por |
| Misturado | a, com, de |
| Nivelado | a, com, por |
| Obcecado | em, por |
| Passível | de |
| Próximo | a, de |
| Satisfeito | com, de, em, por |
| Submetido | a, por |
| Tolerante | com, para com |
| Útil | a, para |
| Zeloso | de, em, por |
Alguns advérbios como “longe” (longe de algo, de alguém), “perto” (perto de algo, de alguém), “independentemente” (de algo), entre outros, também necessitam de complemento com preposição. Ao falar desse complemento de nomes, com preposição, é válido destacar que, sintaticamente, tais complementos são categorizados pela gramática tradicional como complementos nominais.
Em outras palavras, esses complementos de nomes regidos por preposição correspondem à função sintática complemento nominal, isto é, função (como adjuntos adnominais, predicativos, objetos e outros) encontrada em diversas gramáticas e livros didáticos em geral e que tem o papel justamente de completar substantivos abstratos, adjetivos e advérbios.
Dessa forma, em frases como “O ator Leandro Hassum fala de sua admiração por Jerry Lewis” (MERTEN, 2015, [s.p.]), o trecho “por Jerry Lewis” é classificado sintaticamente como complemento nominal.
REGÊNCIA VERBAL
Observe a frase a seguir:
- Carolina assiste muitas séries pela TV.
Você consegue identificar algum problema gramatical nessa sentença? Parece perfeita, não? Ela está mesmo perfeita para contextos informais, mas, em se tratando de situações comunicativas formais, sobretudo na modalidade escrita, há um problema de regência em tal frase. Observe que o verbo “assistir”, com sentido de “ver”, “presenciar” – seu uso mais recorrente – não foi regido por preposição em seu complemento – seu objeto, em termos sintáticos – e, segundo a norma-padrão, em contextos formais, o verbo “assistir”, com esse sentido, deve apresentar a preposição “a” em seu complemento; trata-se, pois, de um verbo transitivo indireto. Logo, para contextos formais, tal frase estaria adequada se estivesse assim: “Carolina assiste a muitas séries pela TV”. Portanto, o complemento de “assistir”, isto é, “a muitas séries”, sintaticamente, é nomeado pela gramática tradicional de objeto indireto (complemento dos nomes, na regência nominal, recebe o nome sintático de complemento nominal, como se viu; complemento de verbos, na regência verbal, é conhecido como objeto – direto, sem preposição; indireto, com preposição).
Talvez você esteja se perguntando se o verbo “assistir” apresenta outro sentido fora esse, de “ver”. Apresenta e tem outra regência em seus outros sentidos.
Em gramáticas e manuais didáticos diversos, comumente se encontra uma lista extensa de verbos para serem estudados quando o assunto é regência verbal. Nós nos deteremos aqui à regência daqueles que consideramos como correspondentes aos casos que mais merecem atenção.
Quadro 2.34 | Regência verbal: casos principais
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Verbos |
Exemplos |
|---|---|
| Assistir Com sentido de ver, presenciar ou de caber, pertencer, o verbo “assistir”, em contextos formais, deve ser regido com a preposição “a” em seu complemento (objeto indireto). Com sentido de ajudar, prestar assistência, é verbo transitivo direto, isto é, não necessita de preposição em seu complemento. Com sentido de morar, residir, o verbo “assistir” é considerado verbo intransitivo. Esse é um uso bastante formal e raramente empregado na linguagem cotidiana. Geralmente é acompanhado de adjunto adverbial |
“Cerca de 10 mil pessoas assistem ao desfile de 7 de Setembro em Blumenau”. (CERCA DE …, 2015, [s.p.]) – (sentido de ver) Este é um dever que assiste a você. – (sentido de caber) “O Governo turco ordenou a abertura de inquéritos aos médicos que assistiram os manifestantes desde o início do movimento de contestação ao primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, denunciou a União dos Médicos da Turquia.” (GOVERNO, 2013, [s.p.]) – (sentido de prestar assistência) O presidente assiste em Brasília. – (sentido de morar) (Nesse caso, “em Brasília” é adjunto adverbial de lugar.) |
| Aspirar Sentido mais usual: de inalar, inspirar, sendo, nesse caso, transitivo direto. Sentido menos empregado: de desejar, almejar, sendo, nesse caso, transitivo indireto, com a preposição “a”. |
“Menino aspira prego e passa por cirurgia para retirar objeto do pulmão” (LUCCHESE, 2015, [s.p.]) – (sentido de inalar) “China aspira à liderança na produção de drones.” (CASTRO, 2013, [s.p.]) – (sentido de desejar) |
| Visar Com sentido de mirar, apontar ou de pôr visto, rubricar, é transitivo direto, sem preposição. Com sentido de ter como objetivo, ter em vista, é transitivo indireto, regido pela preposição “a”. |
O caçador visava o alvo. – (sentido de mirar) O gerente já visou os cheques. – (sentido de rubricar) “STF julga inadequado Mandado de Segurança que visava à existência de cotas em concurso” (STF…, 2014, [s.p.]) – (sentido de ter como objetivo) |
| Esquecer / Lembrar Apresentam duas regências possíveis: quando pronominais, são transitivos indiretos, ou seja, devem ter seu complemento com preposição (de). Quando não estão acompanhados de pronomes são transitivos diretos, isto é, sem preposição (sem “de”). |
Cláudia esqueceu o caderno. Cláudia se esqueceu do caderno. Nós lembramos tudo o que aconteceu. Nós nos lembramos de tudo o que aconteceu. |
| Perdoar / pagar Os verbos “perdoar” e “pagar” são verbos transitivos diretos e indiretos: têm dois complementos – um sem e outro com preposição, ou seja, um direto e outro indireto. Normalmente o objeto direto indica coisas, enquanto o indireto indica pessoas. |
“Valérie Trierweiler: ‘ainda não perdoei (ao) François Hollande’” (VALÉRIE…, 2015, [s.p.]) – (Perdoar o erro a ele) “Mãe é condenada a pagar pensão alimentícia a três filhos em Cuiabá” (MÃE…, 2015, [s.p.]). |
| Preferir O verbo “preferir”, em contextos formais, não é regido por “mais...do que”, como comumente encontramos, por exemplo: “Prefiro mais teatro do que cinema”. É considerado um verbo transitivo direto e indireto, isto é, com um complemento sem (no caso seria, “teatro”) e outro com preposição (“a cinema”). |
Prefiro teatro a cinema. – (norma-padrão) Prefiro mais teatro do que cinema. – (linguagem coloquial) (Quando não sugere escolha, podemos usá-lo somente como verbo transitivo direto: “Prefiro cinema” (sem preposição). |
| Obedecer / desobedecer O verbo “obedecer” (desobedecer) é sempre transitivo indireto, logo, em contextos formais, é utilizado com a preposição “a”. |
O aluno obedece ao professor. – (norma-padrão) O aluno obedece o professor”. – (linguagem coloquial) |
| Chegar / ir Os verbos “chegar” e “ir” são considerados intransitivos pela gramática tradicional. Em geral, está acompanhado não de objetos, mas de adjunto adverbiais e, em contextos formais, a norma-padrão orienta o uso da preposição “a” no advérbio, e não “em”. |
Chegamos a São Paulo. – (norma-padrão) Chegamos em São Paulo. – (linguagem coloquial) Vou ao banheiro. – (norma-padrão) Vou no banheiro. – (linguagem coloquial) |
Como já afirmado, esses são apenas alguns dos verbos em geral estudados quando o assunto é regência verbal. Esperamos que tenham ficado claros seus usos em contextos formais e em situações comunicativas mais coloquiais, cotidianas.
CONCEITUAÇÃO E EMPREGO DO ACENTO INDICATIVO DE CRASE
Antes de mais nada, é importante ficar claro: crase não é um acento, mas o nome dado à junção, fusão, contração de dois “as” – em geral, o “a” preposição e o “a” artigo feminino. Para marcar que há dois “as” juntos usamos o acento indicador de crase, o acento grave (`). Portanto, toda vez que perguntamos se há crase, estamos questionando, na verdade, se há ou não dois “as” juntos, para, assim, assinalar/marcar tal contração por meio do sinal indicativo de crase.
Listamos, a seguir, situações em que ocorre e em que não ocorre crase, além de casos especiais.
Quadro 2.35 | Crase
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Casos em que há crase |
Exemplos |
|---|---|
| Junção da preposição “a” + artigo feminino a ou as O verbo “assistir”, com sentido de ver, é um exemplo de verbo que pede preposição “a” (transitivo indireto). Antes de nomes de cidades, estados, países, há que se verificar se eles admitem “a” artigo antes. Existe uma dica eficiente para saber se há crase antes de nomes de cidade, estados, países: se conseguimos dizer, “vou a/volto DA; crase há” – haverá o acento grave. Mas, se dissermos “vou a / volto DE; crase para quê?”, não haverá crase, porque não há junção de dois “as”. |
“Hoje assistimos à peça de teatro ‘(A) Cavalo’!” (CEEAP, 2019, [s.p.]). (Nesse caso, o verbo “assistir” é regido pela preposição “a”, que se junta ao artigo ‘a”, acompanhante do substantivo “peça”. Com isso, juntaram-se dois “as” – há crase.) Vou a Berlim. Vou à Alemanha. (Dizemos “a Alemanha fica na Europa", mas não dizemos “A Berlim […]”. Desse modo, só há crase em “Vou à Alemanha” – ocorrência em que há o “a” preposição, exigido pelo verbo “ir” + o “a” artigo que acompanha “Alemanha”. |
| Junção da preposição “a” + o a que inicia os pronomes demonstrativos: aquele(s), aquela(s), aquilo O verbo “referir-se” é transitivo indireto, portanto regido pela preposição “a”. O exemplo mostra a junção dessa preposição com o “a” inicial de “aquele”. |
Eu me refiro àquele país que foi sede da última Copa do Mundo. (A preposição, nesse caso, junta-se ao “a” que introduz o pronome “aquele”. Com isso, juntaram-se dois “as” – há crase.) |
| Junção da preposição “a” + o a que antecede os pronomes relativos: a qual; as quais O termo “vinculados” exige a preposição “a”. O exemplo mostra a junção dessa preposição com o “a” de “a qual”. |
“[…] e estão recebendo suporte da Secretaria e da empresa terceirizada à qual são vinculados.” (PEDESTRE…, 2015, [s.p.]). (O pronome “a qual” retoma o termo “empresa terceirizada”. Esse, por sua vez, está relacionado ao termo "vinculados. Dessa forma, junta-se o “a” de vinculados com o “a” que introduz o pronome “a qual” e há crase.) |
| Junção da preposição “a” + o pronome demonstrativo a O adjetivo “semelhante” exige a preposição “a”. O exemplo mostra a junção dessa preposição com o pronome demonstrativo. |
“Relação de Casillas com Mourinho era semelhante à de um casal” (CASILLAS…, 2015, [s.p.]). (Nesse caso, a preposição “a” junta-se ao “a” que faz referência ao substantivo feminino “relação”; logo, há a fusão dos dois “as”.) |
| Locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas formadas por palavras femininas “À medida de”, “à vista”, “à frente de”, “à noite”. Nesse caso, junta-se o “a” que faz parte da locução com o “a” que acompanha as palavras femininas de dentro da locução. |
Ela se sentou à frente dele. (Dessa forma, se for uma locução formada por palavras masculinas, não haverá crase. Exemplo: compras a prazo; andar a cavalo.) Chegaremos às 14h. (Aqui também entram as indicações de horas, uma vez que o trecho “às 14h” nada mais é do que uma locução adverbial de tempo formada pela palavra feminina “horas”. |
OCORRÊNCIAS EM QUE NÃO HÁ CRASE
Como já se viu, não há crase antes de palavras masculinas, justamente porque nesses casos não há dois “as”. Vamos ver outras situações em que também não há dois “as”.
Quadro 2.36 | Casos em que não há crase
Fonte: elaborado pelas autoras.
| Casos em que não há crase |
Exemplos |
|---|---|
| Antes de verbos | “Homem volta a comer depois de passar 10 anos se alimentando por máquina”. (PINHEIRO, 2020, [s.p.]). |
| Antes da maioria dos pronomes Alguns pronomes admitem o uso de artigo “a” antes deles, como o pronome “mesma”. Nesses casos, pode haver crase. |
“Eu disse a ela que não levaria as crianças para o passeio […]” (“POR 58 SEGUNDOS…, 2020, [s.p.]). (Nesse caso, apesar de “ela” ser feminino, não usamos artigo “a” antes desse pronome. Com isso, só há o “a” preposição que vem do verbo “dizer”.) |
| Em expressões formadas por palavras repetidas | “Dayse foge da pensão e Germano fica cara a cara com Gilda” (TOTALMENTE…, 2020, [s.p.]). (Nesses casos, entende-se que só foi usado o “a” preposição.) |
| Diante de substantivos em sentido genérico O “a” preposição está no singular e o substantivo – mesmo feminino – no plural. |
Fez referência a cidades litorâneas. (Nesse caso, entende-se que somente o “a” preposição foi usado.) |
CASOS FACULTATIVOS DE CRASE
Em algumas situações o uso do acento indicativo de crase é facultativo, isto é, pode ou não ser empregado, por exemplo:
- Diante de nomes próprios femininos: Enviei o relatório a Maria. / Enviei o relatório à Maria.
- Diante de pronomes possessivos femininos: Enviei o relatório a nossa coordenadora. / Enviei o relatório à nossa coordenadora.
Isso ocorre porque podemos usar tanto os nomes próprios femininos quanto os pronomes possessivos femininos, acompanhados ou não de “a”, artigo.
Por fim, há também os curiosos casos dos termos “casa” e “terra”.
- Voltamos a casa.
- Os marinheiros voltaram a terra.
- Voltamos à casa da tia Helena.
- Os marinheiros chegaram à terra dos sonhos.
- Os astronautas chegaram à Terra.
Observe que, às vezes, o “a” que antecede os termos “casa” e “terra” está craseado e às vezes não. Isso ocorre porque, quando o termo “casa” tem sentido de lar, não vem precedido de “a” artigo, logo, não há crase (normalmente, ocorre quando não está determinado de quem é a casa). Quando o termo casa vem com definição de quem é, por exemplo, “casa da tia Helena”, o “a” que o acompanha poderá receber acento indicativo de crase (a depender da presença ou não de preposição exigida por um nome/verbo anterior).
Em se tratando do termo “terra”, se estiver com sentido de “terra firme”, não vem precedido de “a”, logo não há crase. Se vier determinada qual “terra” é – lugar específico (“terra dos sonhos”) – poderá haver crase. E se a referência for o planeta, com letra maiúscula, pode haver crase, pois, nesse caso, trata-se de locução adverbial de lugar formada por palavra que admite artigo “a” antes.
Exemplificando
Aproveitando que estamos tratando do uso do acento indicativo de crase, portanto, tratando do “a”, vale a pena relembrar a diferença entre “Há / a”.
Tais expressões: “há” e “a” são empregadas em nossa comunicação para indicar tempo, contudo tempos diferentes.
“Há” é usada na indicação de tempo passado, isto é, que já ocorreu. Nesse caso, o “há” é com “h” porque vem do verbo haver. É utilizado, em tal expressão, juntamente a um indicador de quantidade: há pouco, há três dias, há uma semana.
Exemplo: Voltei do interior há alguns dias. – (passado)
Observe que, nesse caso, o “há” é sinônimo de “faz”, do verbo fazer, que, assim como o “haver”, é impessoal; não varia para o plural, por não ter sujeito, como se viu nesta seção ao se estudar concordância.
No caso de “a” – sem “h”, como já afirmado, também indica tempo, mas um tempo futuro – indicação de algo vai ainda ocorrer. O “a” aqui se configura como uma preposição que se junta a um item indicador de quantidade: a pouco, a três dias, a uma semana.
Exemplo: Voltarei do interior daqui a alguns dias. – (futuro)
Também não se devem confundir há cerca, a cerca e acerca.
Tanto o “há” quanto o “a” podem indicar quantidade de tempo aproximada.
Exemplos:
Cheguei há cerca de duas horas. – (passado)
Chegarei daqui a cerca de duas horas. – (futuro)
O “acerca” é usado nas locuções adverbiais de assunto, sendo equivalente a expressões como “a respeito de”, “sobre”.
Veja: Conversamos acerca da pauta da reunião.
Mais uma vez, confira o quanto os conteúdos estudados neste material relacionam-se com o que apresenta a BNCC, nesse caso em especial às habilidades a serem trabalhadas no ensino fundamental II, desde ao 6º até o 9º ano.
Foco na BNCC
Confira algumas habilidades a serem trabalhadas no ensino fundamental II:
(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. […]
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e composto). (BRASIL, 2020, p. 171)
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc. […]
(EF07LP10) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais, concordância nominal e verbal, pontuação etc. (BRASIL, 2020, p. 173)
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. (BRASIL, 2020, p. 187).
(EF09LP07) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. (BRASIL, 2020, p. 189).
ADJUNTO ADVERBIAL, AS VÍRGULAS E A ORDEM DOS TERMOS NA ORAÇÃO
Você já observou a ordem em que dispomos os termos em uma oração? A ordem clássica dos termos na oração é: Sujeito → Verbo → Complemento (se houver). Exemplo:
- Minha namorada adora Machado de Assis.
Perceba: minha namorada (sujeito) → adora (verbo) → Macho de Assis (complemento).
Mas é claro que podemos alterar tal ordem, usando, por exemplo, um sujeito em posição posposta, ou seja, após o verbo. Veja:
- Acabou a água no meu bairro.
Nesse caso, o sujeito é “a água” e foi utilizado após o verbo “acabar”. E o termo “no meu bairro”, refere-se a qual função sintática? Se você pensou em adjunto adverbial, você acertou. O segmento “no meu bairro” é considerado um adjunto adverbial de lugar.
Como a ordem canônica da oração é sujeito + verbo + complemento, o adjunto adverbial, em geral, está no fim da oração. Mas, se quisermos, podemos utilizá-lo no início da frase. Só devemos atentar quanto ao uso das vírgulas nessas situações, pois, quando você “desloca” o adjunto adverbial para o início ou meio da frase, é interessante que ele seja isolado por vírgula. Exemplo:
- No meu bairro, acabou a água.
O uso da vírgula só será facultativo quando se tratar de um adjunto adverbial de curta extensão. Por exemplo: na frase a seguir, podemos usar o adjunto adverbial “Sábado” seguido ou não de vírgula:
- Sábado, acabou a água no meu bairro.
- Sábado acabou a água no meu bairro.
O uso de vírgulas também é aconselhável quando há uma sequência de elementos de uma mesma função sintática. Portanto, se usarmos seguidamente dois adjuntos adverbiais, também devemos separá-los por vírgula:
- Sábado, no meu bairro, acabou a água.
Esse uso das vírgulas para separar adjunto adverbial deslocado de seu lugar mais típico na oração, ou seja, o final da sentença, também se aplica em casos em que temos uma oração inteira funcionando como adjunto adverbial. Você se recorda de que, quando antepostas, as orações adverbiais são sempre isoladas por vírgula? Justamente porque estão no início do período; quando empregadas no fim, não há a obrigação de isolá-las por vírgula. Relembre tal uso por meio do exemplo a seguir, em que temos uma oração subordinada adverbial temporal em destaque:
- Quando fui a São Paulo, assisti a um belo espetáculo teatral.
- Assisti a um belo espetáculo teatral quando fui a São Paulo.
Essa é exatamente uma das funções da vírgula, a de separar orações adverbiais, como se viu nesta seção – um assunto que, sem dúvida, estará bastante presente em sua futura prática docente.
Pesquise mais
Indicamos a leitura do texto “Investigação fonético-acústico perceptual dos sinais de pontuação enquanto marcadores prosódicos”, de Vera Pacheco (Unicamp), caso deseje aprofundar-se mais no estudo dos sinais de pontuação.
- PACHECO, V. Investigação fonético-acústico-perceptual dos sinais de pontuação enquanto marcadores prosódicos. 2003. 138 f. (Mestrado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.
Caso queira conhecer um pouco da concordância verbal sob o viés das variações linguísticas, fica a indicação de leitura de um trabalho de Maria Marta Pereira Scherre (Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Brasília) e Anthony J. Naro (Universidade Federal do Rio de Janeiro): “Restrições sintáticas e semânticas no controle da concordância verbal em português”.
- SCHERRE, M. M. P.; NARO, A. J. Restrições sintáticas e semânticas no controle da concordância verbal em português. Fórum Linguístico, Florianópolis, n. 1, p. 45-71, jul./dez. 1998.
Se pretende conhecer um olhar menos tradicional acerca da regência verbal, conheça a pesquisa “Buscando sentido para a pesquisa e o ensino de regência verbal: uma abordagem funcional-cognitiva”, desenvolvida por Thiago de Aguiar Rodrigues (UnB).
- RODRIGUES, T. A. Buscando sentido para a pesquisa e o ensino de regência verbal: uma abordagem funcional-cognitiva. 2011. 229 f. (Mestrado em Linguística) – Instituto de Letras, Universidade de Brasília, 2011.
Para estudar mais sobre o emprego do sinal indicativo de crase, recomendamos a leitura de “Um estudo sobre o acento grave e o fenômeno da crase”, de Ozanir Roberti Martins (ABRAFIL).
- MARTINS, O. B. Um estudo sobre o acento grave e o fenômeno da crase. Revista da Academia Brasileira de Filologia, n. 21, p. 80-110, 2017.
Finalizamos mais uma seção de seu estudo e mais uma unidade de formação de seu conhecimento acerca de nossa língua. Muitos saberes já foram alcançados e muitos outros ainda estão por vir!
Referências
ABAURRE, M. L.; PONTARA, M. Gramática: texto: análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, 2006.
ANDAR à cavalo é fisioterapia para crianças atendidas na Penha – Jornal da Câmara (23.07.2013). YouTube, 2013. 1 vídeo (3 min 49 seg). Publicado pelo canal TV Câmara São Paulo. Disponível em: https://bit.ly/3gR9xFc. Acesso em: 27 jul. 2020.
ANDRADE, C. D. Verbo ser. In: ANDRADE, C. D. A lua no cinema e outros poemas. São Paulo: Companhia das letras, 2011.
ANDRADE, M. Ode ao burguês. In: ANDRADE, M. De Pauliceia Desvairada a Café. São Paulo: Círculo do Livro, 1983.
APCD – Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas. Doa-se Cadeira Odontológica. APCD Regional Taubaté, 13 dez. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2YZea9Z. Acesso em: 27 jul. 2020.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2020. Disponível em: https://bit.ly/2DpSqMY. Acesso em: 27 jul. 2020.
CARRETO e carretos à partir de 29,99. Carreto e frete Salvador, [s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/31RXQcW. Acesso em: 27 jul. 2020.
CASILLAS: “Relação com Mourinho era semelhante à de um casal”. Record, 18 set. 2015. Disponível em: https://bit.ly/2ZftpMj. Acesso em: 27 jul. 2020.
CASTRO, V. China aspira à liderança na produção de drones. Defesa Aérea & Naval, 24 maio 2013. Disponível em: https://bit.ly/3hT0wfQ. Acesso em: 27 jul. 2020.
CENTRO DE ESTUDOS EDGAR ALLAN POE – CEEAP. Hoje assistimos à peça de teatro “A Cavalo”! Guimarães, 19 dez. 2019. Facebook: ceedgarallanpoe. Disponível em: https://bit.ly/2QKYO4f. Acesso em: 27 jul. 2020.
CERCA de 10 mil pessoas assistem ao desfile de 7 de Setembro em Blumenau. NSC Total, 7 set. 2015. Disponível em: https://bit.ly/2F0G1zf. Acesso em: 27 jul. 2020.
CEREJA, W. R.; COCHAR, T. M. Gramática: texto, reflexão e uso. 5. ed. São Paulo: Atual, 2016.
CLUBINHO XALINGO. Mãe, só tem uma! Xalingo Brinquedos, [s.l., s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/2GcXDbR. Acesso em: 27 jul. 2020.
EMILLY vai à coquetel mas reclama da comida: “Vou ter que ir no Mc”. Estado de Minas, 11 maio 2017. Disponível em: https://bit.ly/32MhV3C. Acesso em: 27 jul. 2020.
ENEM 2014 – Linguagens, códigos e suas tecnologias – Q 98. Resumov, [s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/3bjnhqZ. Acesso em: 27 jul. 2020.
ENEM 2012. Questão 119. Educação, Globo.com, [s.d.]. Disponível em: http://educacao.globo.com/provas/enem-2012/questoes/119.html. Acesso em: 27 jul. 2020.
EUA negam que irão abandonar tratado de testes nuclear. R7, 30 jul. 2019. Disponível em: https://bit.ly/3bkaMv9. Acesso em: 27 jul. 2020.
GAYER, E. EUA batem recorde de 74 mil novos casos; mundo atinge 14 milhões de doentes. UOL, 18 jul. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3lHGSWF. Acesso em: 27 jul. 2020.
GOVERNO turco ordena inquérito a médicos que assistiram manifestantes. Porto, Jornal de Notícias, 14 jun. 2013. Disponível em: https://bit.ly/3lI4ISg. Acesso em: 27 jul. 2020.
JESUS, A. Google está perto de tornar Android Wear compatível com iPhone, diz site. TechTudo, 10 abr. 2015. Disponível em: https://glo.bo/2F2q7o3. Acesso em: 27 jul. 2020.
LUCCHESE, B. Menino aspira prego e passa por cirurgia para retirar objeto do pulmão. G1, 24 abr. 2015. Disponível em: https://glo.bo/3hSYsoa. Acesso em: 27 jul. 2020.
MÃE é condenada a pagar pensão alimentícia a três filhos em Cuiabá. G1, 3 set. 2015. Disponível em: https://glo.bo/2QP5e2A. Acesso em: 27 jul. 2020.
MARTINS, O. B. Um estudo sobre o acento grave e o fenômeno da crase. Revista da Academia Brasileira de Filologia, n. 21, p. 80-110, 2017. Disponível em: https://bit.ly/3bkOt8J. Acesso em: 27 jul. 2020.
MEIRELES, G. 2 ótimas dinâmicas para trabalhar o uso da vírgula. Professor em Sala, [s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/3jD5opV. Acesso em: 27 jul. 2020.
MERTEN, L. C. O ator Leandro Hassum fala de sua admiração por Jerry Lewis. Estadão, 2 mar. 2015. Disponível em: https://bit.ly/2QMoNZf. Acesso em: 27 jul. 2020.
MONTAIGNE, M. Os ensaios: uma seleção. Organização: M. A. Screech. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Disponível em: https://bit.ly/3lBUwKZ. Acesso em: 27 jul. 2020.
OITENTA por cento da população vive com água potável sem garantia. Dourados Agora, 2016. Disponível em: https://bit.ly/2DlRNUy. Acesso em: 27 jul. 2020.
OMS: crianças devem ter tempo em frente a telas limitado a 1 hora. Agência Brasil, 24 abr. 2019. Disponível em: https://bit.ly/3jGqRyy. Acesso em: 27 jul. 2020.
PACHECO, V. Investigação fonético-acústico-perceptual dos sinais de pontuação enquanto marcadores prosódicos. 2003. 138 f. (Mestrado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. Disponível em: https://bit.ly/2EPfB3Y. Acesso em: 27 jul. 2020.
PEDESTRE é atingido por bala perdida em tiroteio no centro de Recife. G1, 30 set. 2015. Disponível em: https://glo.bo/2F2pQS3. Acesso em: 27 jul. 2020.
PINHEIRO, R. Homem volta a comer depois de passar 10 anos se alimentando por máquina. Estado de Minas, 21 jul. 2020. Disponível em: https://bit.ly/2ESMzQR. Acesso em: 27 jul. 2020.
POLÍCIA investigará morte de menina que aspirou desodorante. O Tempo, 9 fev. 2018. Disponível em: https://bit.ly/3jBxmT4. Acesso em: 27 jul. 2020.
"POR 58 SEGUNDOS, perdi meu filho”, diz Mirtes Santana, mãe de Miguel, em entrevista. UOL, 20 jul. 2020. Disponível em: https://bit.ly/2EPfg1c. Acesso em: 27 jul. 2020.
"PREFIRO ganhar a Liga com o Shakhtar que a Champions com o Barcelona”. Redação Mais Futebol, tvi24, 1 maio 2017. Disponível em: https://bit.ly/3hSKxi6. Acesso em: 27 jul. 2020.
PROCURA-SE um amigo. Pensador, [s.d., s.p.]. Disponível em: https://bit.ly/2QMqkyv. Acesso em: 27 jul. 2020.
RIOS, A. Idosos são grupo de risco, mas outras faixas etárias merecem atenção. Correio Braziliense, 11 abr. 2020. Disponível em: https://bit.ly/32MNDh7. Acesso em: 27 jul. 2020.
RODRIGUES, E.; BARONE, M.; RUSSIO, M. Cormier: “Johnson não está habituado à pressão de disputar o título mundial”. Combate, G1, 23 maio 2015. Disponível em: https://glo.bo/3jGqfce. Acesso em: 27 jul. 2020.
RODRIGUES, T. A. Buscando sentido para a pesquisa e o ensino de regência verbal: uma abordagem funcional-cognitiva. 2011. 229 f. (Mestrado em Linguística) – Instituto de Letras, Universidade de Brasília, 2011. Disponível em: https://bit.ly/2EXaEpy. Acesso em: 27 jul. 2020.
ROGÉRIO, C. 7 livros que estimulam a capacidade de imaginar-se outro. Crescer, 20 jul. 2020. Disponível em: https://glo.bo/31OhK8O. Acesso em: 27 jul. 2020.
RUSSELL, B. The autobiography of Bertrand Russell – 1872-1914. London: George Allen and Unwin, 1967. (p. 13).
SABINO, F. O menino no espelho. Record, 1982.
SABRINA vai à Roma. AdoroCinema, [s.d.]. Disponível em: https://bit.ly/2QPbXt8. Acesso em: 27 jul. 2020.
SCHERRE, M. M. P.; NARO, A. J. Restrições sintáticas e semânticas no controle da concordância verbal em português. Fórum Linguístico, Florianópolis, n. 1, p. 45-71, jul./dez. 1998. Disponível em: https://bit.ly/2EUmroC. Acesso em: 27 jul. 2020.
STF julga inadequado Mandado de Segurança que visava à existência de cotas em concurso. PCI Concursos, 15 ago. 2014. Disponível em: https://bit.ly/3lLJ9QO. Acesso em: 27 jul. 2020.
TOTALMENTE Demais: Dayse foge da pensão e Germano fica cara a cara com Gilda. Na Telinha, UOL, 20 jul. 2020. Disponível em: https://bit.ly/31RyCM0. Acesso em: 27 jul. 2020.
VALÉRIE Trierweiler: “Ainda não perdoei François Hollande”. Caras, 9 jul. 2015. Disponível em: https://bit.ly/34TinQl. Acesso em: 27 jul. 2020.
VENDEDOR de rua de Caxias aceita cartão na venda. Pioneiro, 7 set. 2014. Disponível em: https://bit.ly/3hSWTqi. Acesso em: 27 jul. 2020.



